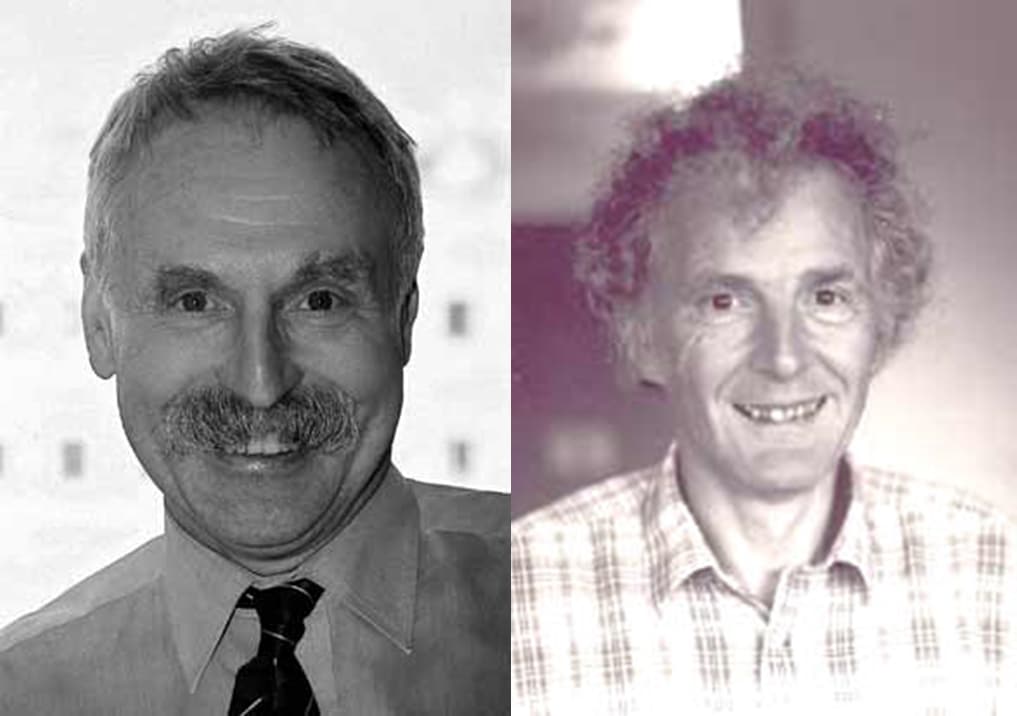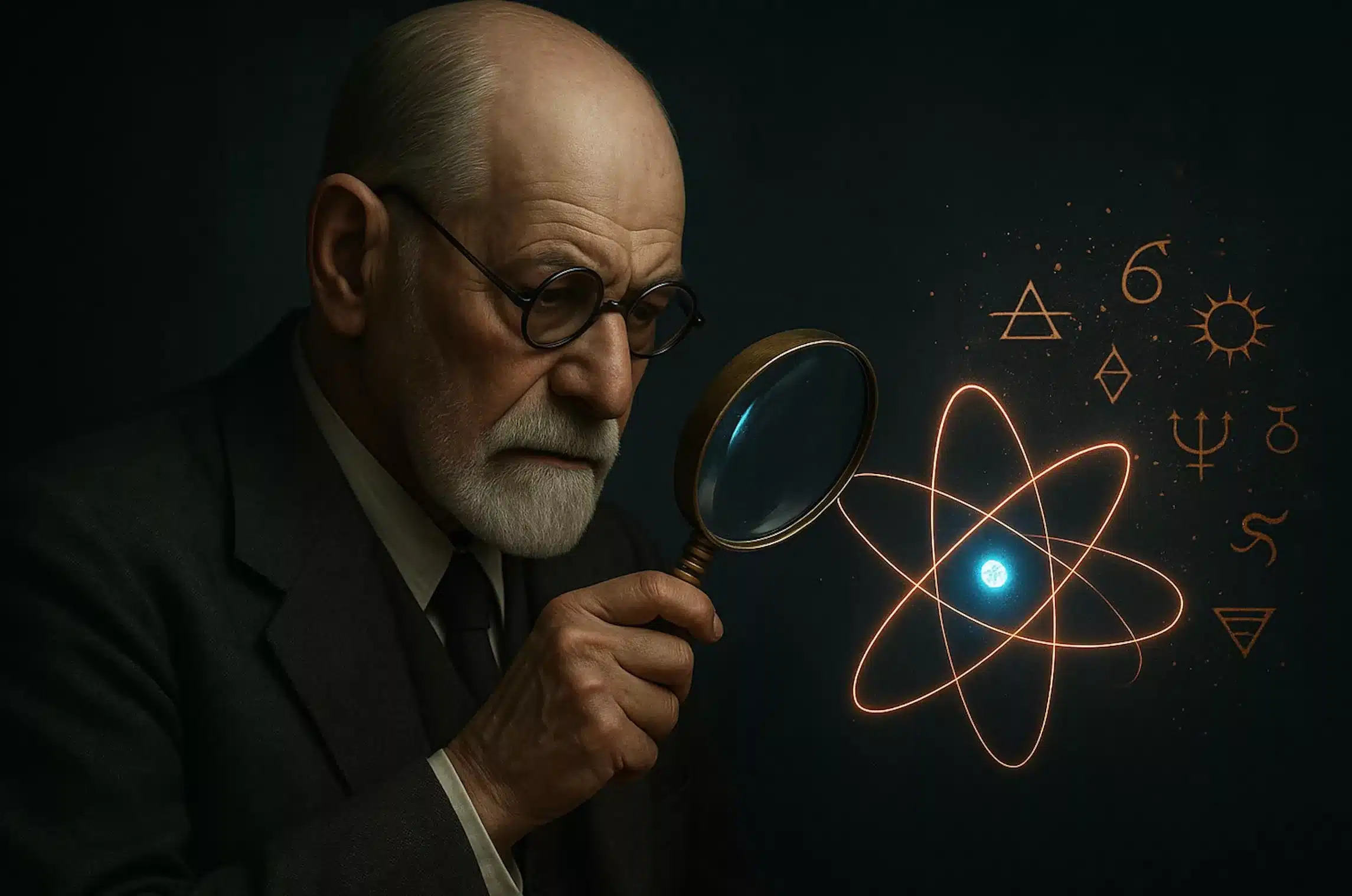Nos anos 70 surgiu uma nova escola na sociologia da ciência. Enquanto sociólogos da ciência se concentravam anteriormente, em geral, em analisar o contexto social dentro do qual a atividade científica tem lugar, os pesquisadores reunidos sob a bandeira do ”programa forte” eram, como o nome indica, consideravelmente mais ambiciosos. Seu objetivo era explicar em termos sociológicos o conteúdo das teorias científicas.
Claro, a maioria dos cientistas, quando ouve falar destas ideias, protesta e põe em evidência o elo perdido essencial nesse tipo de explicação: a própria natureza.[1] Nesta seção explicaremos os problemas conceituais básicos enfrentados pelo programa forte. Ainda que alguns de seus defensores tenham feito recentemente correções na formulação original, eles não parecem se dar conta de quanto o seu ponto de partida era equivocado. Comecemos por citar os princípios propostos para a sociologia do conhecimento por um dos fundadores do programa forte, David Bloor:
- Ela deve ser causal, isto é, preocupada com as condições que dão origem às crenças ou estados de conhecimento. Naturalmente haverá outros tipos de causas, além das sociais, que contribuirão para criar as crenças.
- Ela deve ser imparcial em relação à verdade ou à falsidade, à racionalidade ou à irracionalidade, ao sucesso ou ao fracasso de um conhecimento ou teoria particular. Ambos os lados dessa dicotomia irão requerer explicação.
- Ela deve ser simétrica em seu modo de explicação. Os mesmos tipos de causas explicariam, por exemplo, as crenças verdadeiras e as falsas.
- Ela deve ser reflexiva. Em princípio, seus padrões explicativos teriam de ser aplicáveis à própria sociologia. (Bloor 1991, p. 7)
Para compreender o que se quis dizer por ”causal, ”imparcial”, e ”simétrico”, analisaremos um artigo de Bloor e seu colega Barry Barnes, no qual explicam e defendem seu programa. O artigo começa aparentemente por uma declaração de boas intenções:
”Longe de ser uma ameaça à compreensão científica das formas de saber, o relativismo é uma exigência da compreensão científica. (…) Aqueles que se opõem ao relativismo, e que conferem a certas formas de conhecimento um status privilegiado, é que constituem a verdadeira ameaça ao entendimento científico do conhecimento e da cognição. (Barnes e Bloor, 1981, pp. 21-22)”
Seja como for, isto já suscita o tema da auto-refutação: o discurso dos sociólogos que preconiza ”um entendimento científico do conhecimento e da cognição” não estaria reclamando para si um ” status privilegiado” em relação a outros discursos, Por exemplo, o dos ”racionalistas”, que Barnes e Bloor criticam no restante do artigo? Parece-nos que, se procuramos ter uma compreensão ”científica” do que quer que seja, somos obrigados a fazer distinção entre uma boa e uma má compreensão. Barnes e Bloor parecem estar atentos a isso, quando escrevem:
”O relativista, como qualquer outro, tem necessidade de escolher as crenças, aceitando algumas, rejeitando outras. Terá naturalmente suas preferências , e elas coincidirão caracteristicamente com as das outras pessoas que moram no mesmo lugar. As palavras ”verdadeiro” e ”falso” municiam o idioma em que estas avaliações são expressas, e as palavras ”racional” e ”irracional” exercerão função semelhante. (Barnes e Bloor 1981, p. 27)”
Porém esta é uma estranha noção de ”verdade”, que contradiz evidentemente a noção empregada no dia-a-dia.[2] Se considero a afirmação ”bebi café esta manhã” como verdadeira, não quero simplesmente dizer que prefiro acreditar que bebi café esta manhã, muito menos que ”outros em minha localidade pensam que bebi café esta manhã![3] O que temos aqui é uma radical definição do conceito de verdade, que ninguém (começando pelos próprios Barnes e Bloor) aceitaria na prática para o conhecimento comum. Por que então deveria ser aceito para o conhecimento científico? Observe-se também que, neste mesmo contexto, a definição não é aceitável: Galilei, Darwin e Einstein não escolheram suas crenças seguindo as das outras pessoas que vivem em sua localidade.
Além do mais, Barnes e Bloor não parecem utilizar sistematicamente sua nova noção de ”verdade”; de quando em quando retornam, sem comentários, para o significado original da palavra. Por exemplo, no começo do artigo, admitem que ”dizer que todas as crenças são igualmente falsas levanta o problema do status das asserções do próprio relativista”. Mas, se uma ”crença verdadeira” significasse apenas ”uma crença que se compartilha com outras pessoas da mesma localidade”,[4] o problema da contradição entre crenças assumidas em diferentes lugares já não resultaria em problema algum.[5] Semelhante ambiguidade perturba o exame da racionalidade:
”Para o relativista não há nenhum sentido relacionado à ideia de que algumas normas ou crenças são verdadeiramente racionais por oposição à ideia de que elas só são localmente aceitas como tais. (Barnes e Bloor 1981, p.27)”
De novo, o que isto quer dizer exatamente? Não seria ”verdadeiramente racional” acreditar que a Terra é (aproximadamente) redonda, pelo menos para aqueles dentre nós que temos acesso aos aviões e às imagens de satélites? Seria simplesmente uma crença ”localmente aceita”?
Barnes e Bloor parecem jogar em dois tabuleiros: de um lado, o ceticismo geral, que, é lógico, não dá para ser refutado; do outro, um programa concreto tendo por escopo uma sociologia ”científica” do conhecimento. Mas este último pressupõe que o ceticismo radical foi abandonado e que se está tentado, da melhor maneira possível, compreender algo da realidade.Então, coloquemos temporariamente de lado os argumentos em favor do ceticismo radical, e indaguemos se o ”programa forte”. considerado como projeto científico, é plausível. Eis como Barnes e Bloor explicam o princípio de simetria em que o programa forte está baseado:
”Nosso postulado de equivalência é que todas as crenças estão em igualdade de condições entre si no que diz respeito às causas de sua credibilidade. Não é que todas as crenças sejam igualmente verdadeiras ou falsas, mas sim que, independentemente da verdade ou da falsidade, sua credibilidade deve ser vista como igualmente problemática. A posição que defendemos é que a presença de todas as crenças, sem exceção, clama por investigação empírica e requer encontrar as causas específicas, locais, desta credibilidade. Isto quer dizer que, independentemente de o sociólogo considerar a crença como verdadeira e racional, ou como falsa e irracional, ele deve pesquisar as causas desta credibilidade… Todas essas questões podem, e deveriam, ser respondidas sem levar em conta o status da crença, tal qual julgada e avaliada pelas próprias normas do sociólogo. (Barnes e Bloor 1981, p. 23)’‘
Aqui, em vez de ceticismo ou relativismo filosófico geral, Barnes e Bloor propõem claramente um relativismo metodológico para os sociólogos do conhecimento. Todavia, a ambiguidade permanece: o que exatamente querem dizer com ”sem levar em conta o status da crença, tal qual julgada e avaliada pelas próprias normas do sociólogo”?
Se se trata simplesmente de dizer que devemos utilizar os mesmos princípios da sociologia e da psicologia para explicar as causas de todas as crenças independentemente de as considerarmos verdadeiras ou falsas, racionais ou irracionais, nesse caso não teríamos nenhuma objeção especial.[6] Mas, se se afirma que somente causas sociais podem intervirem tal explicação – que a natureza não pode contribuir para isso – então só podemos ter profunda discordância.[7]
Para entender o papel da natureza, levemos em conta um exemplo concreto: Por que a comunidade científica européia se convenceu da veracidade da mecânica de Newton em algum momento entre 1700 e 1750? Indubitavelmente, uma variedade de fatores históricos, sociológicos, ideológicos e políticos entra nesta explicação – deve-se elucidar, por exemplo, por que a mecânica newtoniana foi rapidamente aceita na inglaterra, porém mais lentamente na frança[8] -, mas certamente uma parte da explicação (e uma parte muito importante) se deve a que os planetas e os cometas verdadeiramente movem com alto grau de aproximação, embora não exatamente, como previsto pela mecânica de Newton.[9]
Eis um exemplo ainda mais evidente. Suponha-se que encontramos um homem saindo às carreiras de um salão de conferências gritando a plenos pulmões que há lá dentro uma manada de elefantes em debanda. Como avaliar as ”causas” desta ”crença”? É evidente que isso dependerá de modo crucial na presença ou não de uma manada de elefantes em debanda no salão. Ou, mais precisamente, por admitirmos que não temos acesso ”direto” à realidade, dependerá de nós darmos (cautelosamente!) uma olhadela no salão e vermos e ouvirmos uma manada de elefantes em debanda (ou a destruição que tal manada pode ter causado há pouco, antes de deixar o salão). Se constatarmos a presença dos elefantes, então a explicação mais plausível para todo o conjunto de observações é que há (ou houve) de fato uma manada de elefantes em debanda no salão de conferências, que o homem viu e/ou ouviu a cena, e que o pavor que se seguiu (do qual, dadas as circunstâncias, bem poderíamos compartilhar) o levou a deixar o salão às pressas e gritar o que ouvimos. E a nossa reação será chamar a polícia e os funcionários do zoológico. Se, por outro lado, nossas próprias observações não revelarem nenhum indício da presença de elefantes no salão de conferências, então a explicação mais plausível é que não havia realmente manada de elefantes em debanda, que o homem imaginou os elefantes como resultado de alguma alucinação (induzida interna ou quimicamente), e que isto o levou a deixar o salão às pressas e a gritar o que ouvimos. E, neste caso, chamaremos a polícia e os psiquiatras. Ousamos afirmar que Barnes e Bloor, independentemente do que publicam em seus artigos de sociologia e filosofia, fariam o mesmo na vida real.[10]
Ora, como explicamos antes, não vemos nenhuma diferença fundamental entre a epistemologia da ciência e a atitude racional na vida comum: a primeira não é mais que a extensão e o refinamento da última. Consequentemente, podemos ter sérias dúvidas sobre qualquer filosofia da ciência – ou metodologia, para sociólogos – quando nos apercebemos de que é clamorosamente errônea ao ser aplicada à epistemologia da vida cotidiana.
Em resumo, parece-nos que o ”programa forte” é ambíguo em seu propósito; e, dependendo de como se resolve a ambiguidade, torna-se ou um corretivo válido e um tanto interessante para as noções psicológicas e sociológicas mais ingênuas – lembrando-nos que ”crenças verdadeiras também têm causas” -, ou um erro grosseiro e clamoroso.
Os defensores do ”programa forte”, por conseguinte, enfrentam um dilema. Poderiam aderir sistematicamente a um ceticismo ou relativismo filosófico; mas neste caso não se vê por que ( ou como) procurariam construir uma sociologia ”científica”. Ou poderiam optar pela mera adoção do relativismo metodológico; porém esta postura é insustentável se se abandona o relativismo filosófico, porque ela ignora um elemento essencial da pretendida explicação,isto é, a própria natureza. Por esta razão, a abordagem sociológica do ”programa forte” e a postura filosófica relativista reforçam-se mutuamente. Reside ai o perigo ( e sem dúvida a atração para alguns) das diversas variáveis desse programa.
Notas:
- [1] Para estudos de exemplos em que cientistas e historiadores da ciência explicam os erros concretos contidos nas análises e cometidos pelos defensores do programa forte, vide, por exemplo, Gingras e Schweber (1986), Franklin (1990, 1994), Mermin (1996a, 1996b, 1996c, 1997a), Gottfried e Wilson (1997), e Koertge (1998).
- [2] Pode-se, é lógico, interpretar estas palavras como uma mera descrição: as pessoas tendem a chamar de ”verdadeiro” aquilo em que acreditam. Mas com esta interpretação a afirmação seria banal.
- [3] Este exemplo foi adaptado da crítica de Bertrand Russell ao pragmatismo de William James e John Duwey: vide caps. 24 e 25 de Russell (1961a), em particular p. 779.
- [4] Barnes e Bloor (1981, p. 22)
- [5] Deslize semelhante surge no seu uso da palavra ”conhecimento”. Os filósofos consideram habitualmente ”conhecimento” como ”crença verdadeira fundamentada” ou algum conceito similar, mas Bloor começa por oferecer uma radical redefinição do termo: Em vez de defini-lo como crença verdadeira – ou, talvez, crença verdadeira fundamentada – conhecimento é para o sociólogo o que as pessoas assumem como conhecimento. Consiste naquelas crenças que as pessoas convictamente possuem e com as quais se identificam… É evidente que conhecimento deve ser distinguido de mera crença. Esta distinção pode se dar reservando-se a palavra ”conhecimento” para o que é consagrado coletivamente, deixando o individual e o idiossincrático ser levado na conta de mera crença. (Bloor 1991, p. 5; vide também Barnes e Bloor 1981, p. 22n) Entretanto, Só nove páginas após ter enunciado esta definição não-padronizada de ”conhecimento”, que ele contrasta com ”erro”: ”Seria impróprio admitir que o trabalho dos nossos recursos animais sempre produz conhecimento. Eles produzem uma mistura de conhecimento e erro com igual naturalidade…” (Bloor 1991, p. 14)
- [6] Embora se possa ter dúvidas sobre a atitude hipercientífica que consiste em pensar que se pode encontrar explicação causal para todas as crenças humanas e ainda mais sobre a ideia que temos hoje em dia dos princípios de sociologia e psicologia bem estabelecidos que podem ser utilizados para esta finalidade.
- [7] Em outro trecho Bloor declara explicitamente que ”naturalmente haverá outros tipos de causas, além das outras causas sociais, que contribuirão para a produção de crenças”. (Bloor 1991, p. 7) O problema é que ele não torna explícito de que modo causas naturais entrarão na explicação da crença ou precisamente o que sobraria do princípio de simetria se causas naturais fossem assumidas seriamente. Para uma crítica mais detalhada das ambiguidades de Bloor ( de um ponto de vista filosófico ligeiramente diferente do nosso), vide Laudan (1981); vide também Slezak (1994).
- [8] Vide, por exemplo, Brunet (1931) e Dobbs e Jacob (1995).
- [9] Ou mais precisamente: há enorme massa de evidências astronômicas extremamente convincentes em apoio à ideia de que os planetas e cometas se movem com alto grau de aproximação, embora não exatamente, como previsto pela mecânica de Newton; e, se esta crença é correta, é esse movimento ( e não simplesmente o fato de acreditarmos nele) que explica em parte por que a comunidade científica européia do século XVIII veio a acreditar na veracidade da mecânica de Newton. Assinalemos que todas as nossas asserções factuais – incluindo ”hoje em Nova York está chovendo” – deveriam ser interpretadas desse mesmo modo.
- [10] Estas decisões podem presumivelmente ser justificadas por um raciocínio bayesiano, usando nossa experiência anterior em salões, quanto à probabilidade de achar elefantes em salão de conferências, à incidência da psicose, à confiabilidade em nossas próprias percepções visuais e auditivas e assim por diante.
Extraído de Imposturas intelectuais (Sökal e Bricmont, p. 91-97).