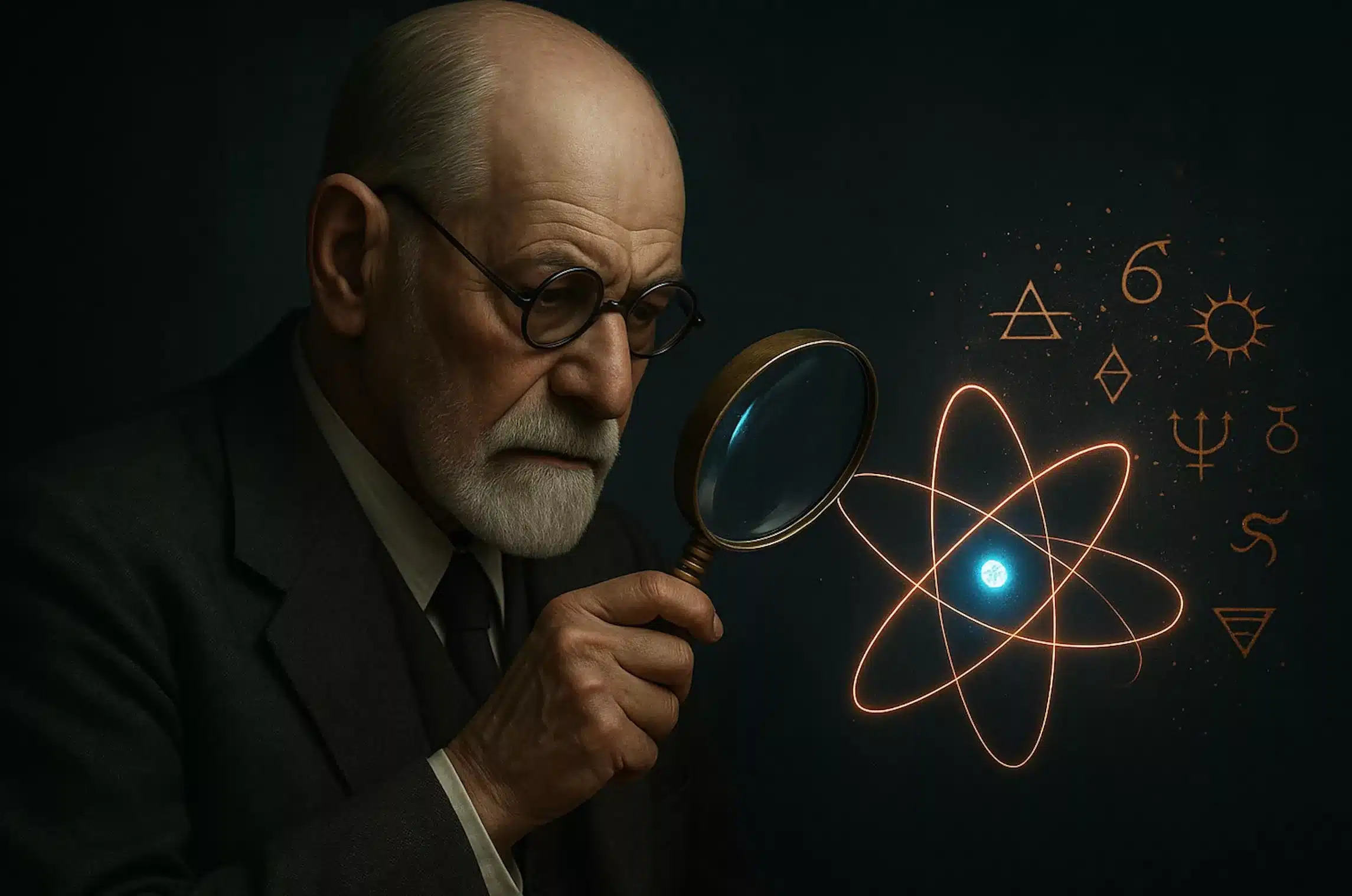Por Richard Dawkins
Publicado na obra A Grande História da Evolução
Os nomes são uma ameaça para a história evolutiva. Não é segredo que a paleontologia é uma área polêmica na qual há inclusive algumas inimizades pessoais. E se formos procurar o porquê de dois paleontologistas estarem brigando, na maioria das vezes descobriremos que é por causa de um nome. Esse fóssil é Homo erectus ou Homo sapiens arcaico? E esse é um dos primeiros Homo habilis ou um dos últimos Australopithecus? Evidentemente é dada uma imensa importância a tais questões, mas com frequência se trata de minúcias. Elas até lembram questões teológicas, e suponho que assim temos uma pista da razão de suscitarem essas desavenças exaltadas. A obsessão por nomes separados é um exemplo do que denomino tirania da mente descontínua.
Na Grã-Bretanha, a gaivota-argêntea e a gaivota-de-asa-escura são espécies claramente distintas. Qualquer pessoa pode diferenciá-las, sobretudo pela cor da parte de cima das suas asas. As gaivotas-argênteas têm a parte de cima das asas em tom cinza prateado, e as de asa escura têm cinza-escuras, quase pretas. Mais importante: as próprias aves também sabem fazer a distinção, pois não se hibridizam apesar de se encontrarem frequentemente e às vezes até se reproduzirem lado a lado em colônias mistas. Por isso, os zoólogos sentem-se plenamente justificados em dar-lhes nomes diferentes, Larus argentatus e Larus fuscus.
Eis uma observação interessante: se acompanharmos a população de gaivotas-argênteas na direção oeste até a América do Norte e depois na volta ao mundo através da Sibéria até retornarmos à Europa, notaremos um fato curioso. As “gaivotas argênteas”, à medida que contornamos o polo, gradualmente se tornam menos parecidas com gaivotas-argênteas e mais semelhantes às gaivotas-de-asa-escura, até por fim descobrirmos que as nossas gaivotas-de-asa-escura-pequenas do oeste da Europa são a outra ponta de um continuum aneliforme que começou com as gaivotas-argênteas. E, cada estágio ao longo do anel, as aves são suficientemente parecidas com suas vizinhas imediatas no anel para intercruzar-se com elas. Isto é, até chegarmos aos extremos do continuum, quando o anel morde a ponta da própria cauda. A gaivota-argêntea e a gaivota-de-asa-escura-pequena na Europa nunca se intercruzaram, embora sejam ligadas por uma série contínua de colegas que se intercruzam por todo o caminho até o outro lado do mundo.
Esse fato está nos mostrando na dimensão espacial algo que sem dúvida sempre ocorreu na dimensão temporal. Suponhamos que nós, humanos, e os chimpanzés, sejamos uma espécie em anel. Pode ter acontecido: um anel que talvez subisse por um lado do vale do Rift (onde acredita-se que tenha ocorrido a vicariância que levou a espécie ancestral à bifurcação nas linhagens Homo, humanos, e Pan, chimpanzés) e descesse pelo outro, com duas espécies totalmente separadas coexistindo no extremo sul do anel, mas um continuum ininterrupto de intercruzamento por todo o caminho de volta até o outro lado. Se isso fosse verdade, que efeito teria sobre nossas atitudes em relação à outra espécie? E sobre todas as aparentes descontinuidades?
Muitos dos nossos princípios legais e éticos dependem da separação entre o Homo sapiens e todas as outras espécies. Entre as pessoas que consideram o aborto um pecado (inclusive aquela minoria que chega ao ponto de assassinar médicos e explodir clínicas de aborto), muitos comem carne sem pensar no que estão fazendo e não se preocupam se chimpanzés são presos em zoológicos e sacrificados em laboratórios. Será que pensariam duas vezes caso pudéssemos traçar um continuum vivo de intermediários entre nós e os chimpanzés? Sem dúvida pensariam. No entanto, aconteceu, só por mero acidente, de todos os intermediários estarem mortos. Só por causa desse acidente podemos confortavelmente imaginar com grande facilidade um enorme abismo entre nossas duas espécies – ou, aliás, entre duas espécies quaisquer.
Já mencionei o caso do perplexo advogado que me interpelou depois de uma conferência. Munido de toda a sua proficiência jurídica, ele veio discutir a seguinte questão interessante: se a espécie A evolui para a espécie B, ele ponderou, tem de chegar um ponto em que uma criança pertence à nova espécie B, mas seus pais ainda são da espécie A. Membros de diferentes espécies não podem, por definição, intercruzar-se, e no entanto sem dúvida um filho não seria tão diferente de seus pais a ponto de ser incapaz de intercruzar-se com a espécie deles. Será que isso – remata ele, sacudindo seu metafórico dedo daquele jeito especial que os advogados, pelo menos nos filmes de tribunal, aperfeiçoaram como sua característica – deita por terra toda a ideia de evolução?
Isso equivale a dizer: “Quando você aquece uma chaleira de água fria, não existe um momento específico em que a água deixa de estar fria e se torna quente; portanto é impossível preparar uma xícara de chá”. Como sempre procuro virar as questões em uma direção construtiva, falei ao advogado sobre as gaivotas-argênteas, e acho que ele se interessou. Ele insistira em classificar os indivíduos firmemente em uma ou em outra espécie. Não admitia a possibilidade de um indivíduo estar a meio caminho entre duas espécies, ou a um décimo do caminho da espécie A para a espécie B. A mesma limitação de pensamento tolhe os intermináveis debates sobre quando exatamente no desenvolvimento de um embrião ele se torna humano (e quando, por implicação, o aborto deve ser considerado equivalente a assassinato). Não adianta dizer para essa gente que, dependendo da característica humana que nos interesse, um feto pode ser “meio humano” ou “um centésimo humano”. “Humano”, para a mente qualitativa, absolutista, é como “diamante”. Não existem casas no meio do caminho. As mentes absolutistas podem ser uma ameaça. Elas causam sofrimento real, sofrimento humano. É isso que chamo de tirania da mente descontínua.
Para certos propósitos, os nomes e as categorias descontínuas são exatamente aquilo de que precisamos. Os advogados, aliás, precisam deles o tempo todo. Crianças não podem dirigir, adultos podem. A lei precisa estipular um limiar, por exemplo o décimo oitavo aniversário. É revelador o fato de as seguradoras terem uma posição muito diferente quanto à idade adequada para esse limiar.
Algumas descontinuidades são reais, por quaisquer critérios. Você é uma pessoa e eu sou outra, e nossos nomes são rótulos descontínuos que indicam corretamente nossa separação. O monóxido de carbono é de fato distinto do dióxido de carbono, não existe sobreposição. Uma molécula consiste em 1 átomo de carbono e 1 de oxigênio, ou 1 de carbono e 2 de oxigênio. Nenhuma tem 1 átomo de carbono e 1,5 de oxigênio. Um gás é letalmente venenoso, o outro é necessário para as plantas produzirem as substâncias orgânicas das quais todos dependemos. O ouro é distinto da prata. Cristais de diamante são realmente diferentes de cristais de grafite. Ambos são feitos de carbono, mas os átomos de carbono dispõem-se naturalmente de dois modos muito distintos. Não há intermediários.
A mente descontínua também espreita sob todos os números oficias que indicam o número de pessoas “abaixo da linha de pobreza”. Podemos indicar a pobreza de uma família especificando sua renda, preferencialmente expressa em termos reais do que ela pode comprar. Ou podemos dizer que “X está com uma mão na frente e outra atrás” ou que “Y é podre de rico”, e todo mundo saberá o que queremos dizer. Mas são perniciosas as contagens ou porcentagens espuriamente precisas de pessoas que estariam acima ou abaixo de uma linha de pobreza estipulada de forma arbitrária. São perniciosas porque a precisão que essa porcentagem implica é de imediato desmentida pela artificialidade sem sentido da “linha”. Linhas são imposições da mente descontínua. Ainda mais politicamente sensível é o rótulo de “negro” em oposição ao de “branco” no contexto da sociedade moderna – em especial a americana. A meu ver, a raça é mais um dos muitos casos em que não precisamos de categorias descontinuas e que podemos dispensar a menos que se apresente um argumento extremamente eloquente em seu favor.
Eis outro exemplo. Nas universidades da Grã-Bretanha, as avaliações são classificadas em três classes distintas: primeira, segunda e terceira classe. As universidades de outros países fazem algo equivalente, mesmo que com nomes diferentes, como A, B, C etc. O que eu quero dizer é que os estudantes não se separam nitidamente em bons, medianos e fracos. Não existem classes separadas e distintas de habilidade ou empenho. Os examinadores esforçam-se para inserir os alunos em uma escala numérica minuciosamente contínua dando notas ou pontos que se destinam a ser adicionados a outras notas do gênero ou manipulados de modo matematicamente contínuos. A pontuação nessa escala numérica contínua fornece mais informações do que a classificação em uma das três categorias. Mesmo assim, apenas as categorias descontínuas são publicadas.
Em uma amostra muito grande de estudantes, a distribuição de capacidade e mestria costuma ser uma curva normal, com alguns obtendo resultados excelentes, alguns com resultados péssimos e muitos entre esses dois extremos. Pode não ser uma curva simétrica, mas com certeza suavemente contínua e se tornaria mais suave conforme fossem adicionados mais estudantes na amostra.
Alguns examinadores (em especial, espero ser perdoado por acrescentar, os de matérias não científicas) parecem mesmo acreditar que existe uma entidade distinta chamada mente de primeira classe, ou “mente alfa”, a qual um estudante inquestionavelmente possui ou não possui. A tarefa do examinador seria separar os primeiros dos segundos e os segundos dos terceiros, exatamente como podemos separar ovelhas de cabras. A probabilidade de que na realidade exista um continuum suave que passe brandamente por todos os intermediários entre a pura ovelhice e a pura cabrice é uma coisa difícil de ser entendida por certos tipos de mentalidade.
E quanto às ovelhas e cabras propriamente ditas? Existem drásticas descontinuidades entre espécies ou será que elas se fundem umas com as outras como as notas de exame de primeira e da segunda classe? Se olharmos para os animais sobreviventes, a resposta normal é: sim, existem drásticas descontinuidades. Exceções como as gaivotas são raras, mas relevantes, pois traduzem para o domínio espacial a continuidades que normalmente encontramos apenas no domínio temporal. As pessoas e os chimpanzés sem dúvida são ligados por uma cadeia contínua de intermediários e por um ancestral comum, mas os intermediários estão extintos; o que resta é uma distribuição descontínua. O mesmo se aplica a pessoas e macacos e a pessoas e cangurus, só que os intermediários extintos viveram muito tempo atrás. Como os intermediários quase sempre estão mortos, é comum cometer-se impunemente o erro de supor que existe uma drástica descontinuidade entre cada espécie e todas as demais. Mas aqui estamos tratando da história evolutiva dos mortos e dos vivos. Quando falamos de todos os animais que já viveram, e não só dos que estão vivos hoje, a evolução nos diz que existem linhas de continuidade gradual ligando precisamente cada espécie a todas as demais. Quando o assunto é história, mesmo espécies modernas aparentemente descontínuas como ovelhas e cães são ligadas, pelo ancestral que elas têm em comum, em linhas ininterruptas de suave continuidade.
Ernst Mayr, o papa da evolução no século XX, apontou a ilusão da descontinuidade – sob seu filosófico nome de essencialismo – como a principal razão de a compreensão evolutiva ter chegado tão tarde na história humana. Platão, cuja filosofia pode ser vista como a inspiração para o essencialismo, acreditava que as coisas reais são versões imperfeitas de um arquétipo ideal de seu tipo. Pairando em algum lugar do espaço ideal está um coelho essencial, perfeito, que tem a mesma relação com um coelho real que o círculo perfeito de um matemático tem com um círculo desenhado no pó. Até hoje, muita gente acalenta firmemente a ideia de que ovelhas são ovelhas e cabras são cabras e que nenhuma espécie jamais poderá dar origem a outra porque, para fazê-lo, teriam de alterar sua “essência”.
Essência não existe. Nenhum evolucionista pensa que as espécies modernas se transformam em outras espécies modernas. Gatos não viram cachorros, ou vice-versa. O que ocorre é que gatos e cachorros evoluíram de um ancestral comum, que viveu há dezenas de milhões de anos. Se todos os intermediários ainda estivessem vivos, a tentativa de separar cães de gatos seria fadada ao fracasso, como acontece com as gaivotas. Longe de ser uma questão de essências ideais, separar gatos e cães só se mostra possível por causa do afortunado (ponto de vista dos essencialistas) fato de que os intermediários por acaso estão mortos. Platão talvez achasse irônico se soubesse que, na realidade, é uma imperfeição – a esporádica má fortuna da morte – que possibilita separar qualquer espécie de outra. Isso evidentemente vale para a questão de separar os seres humanos de nossos parentes mais próximos – e, com efeito, também dos nossos parentes mais distantes. Num mundo de informações perfeitas e completas, informações fósseis tanto quanto informações recentes, seria impossível dar nomes distintos aos animais. Em vez de nomes separados precisaríamos de escalas graduais, do mesmo modo como as palavras quente, morno, fresco e frio são substituídas de modo mais eficaz por escalas graduadas como Celsius ou Fahrenheit.
Hoje, a evolução é universalmente aceita como um fato pelas pessoas pensantes, e por isso poderíamos esperar que as intuições essencialistas em biologia tivessem, por fim, sido superadas. Infelizmente isso não ocorreu. O essencialismo não quer dar o braço a torcer. Na prática, ele não costuma ser um problema. Todos concordam que Homo sapiens é uma espécie diferente (e a maioria até diria que é um gênero diferente) de Pan troglodytes, a espécie dos chimpanzés. Mas também todos concordam que se traçarmos a árvore genealógica humana em direção ao passado até o ancestral comum, voltando depois em direção ao futuro até os chimpanzés, os intermediários por todo o caminho formariam um continuum gradual no qual em cada geração um indivíduo teria sido capaz de intercruzar-se com seu genitor ou seu filho do sexo oposto.
Pelo critério do intercruzamento, cada indivíduo é membro da mesma espécie que a de seus pais. Isso é uma conclusão mais do que esperada, para não dizer banal de tão óbvia, mas só até percebermos que ela gera um paradoxo intolerável na mente essencialista. A maioria dos nossos ancestrais, por toda a história evolutiva, pertenceu a espécies diferentes da nossa por qualquer critério, e nós certamente não poderíamos ter intercruzado com eles. No Período Devoniano, nossos ancestrais diretos eram peixes. No entanto, embora não pudéssemos intercruzar com eles, estamos ligados por uma cadeia ininterrupta de gerações ancestrais, cada uma delas capaz de intercruzar-se com seus predecessores imediatos e com seus sucessores imediatos nessa cadeia.
À luz desse fato, como é vasta a maioria das discussões exaltadas sobre a nomeação de fósseis específicos de hominídieos! O Homo ergaster é amplamente reconhecido como a espécie predecessora que originou o Homo sapiens, e assim aproveitarei essa ideia para o que vem a seguir. Em princípio, nomear o Homo ergaster como uma espécie separada do Homo sapiens poderia ter um significado preciso, mesmo sendo impossível testar isso na prática. Significa que, se pudéssemos voltar ao passado em nossa máquina do tempo para conhecer nossos ancestrais Homo ergaster, não poderíamos intercruzar com eles. Mas suponhamos que, em vez de desembarcarmos diretamente na época do Homo ergaster, ou, na verdade, de qualquer outra espécie extinta em nossa linhagem ancestral, parássemos nossa máquina do tempo a cada mil anos ao longo do caminho e trouxéssemos para bordo um passageiro jovem e fértil. Transportamos esse passageiro ou passageira em direção ao passado até a próxima parada, mil anos antes, e o libertamos (ou a libertamos: peguemos alternadamente alguém do sexo feminino e do masculino a cada parada). Contanto que o nosso passageiro de cada parada pudesse adaptar-se aos costumes sociais e linguísticos locais (uma tarefa e tanto!), não haveria barreiras biológicas para que ele se intercruzasse com um membro do sexo oposto de mil anos antes. Agora pegamos um novo passageiro, digamos que dessa vez seja do sexo masculino, e o transportamos mil anos em direção ao passado. Mais uma vez, ele também seria biologicamente capaz de fecundar uma fêmea de mil anos antes do período em que ele se originou. Essa ligação em cascata continuaria em direção ao passado até a época em que nossos ancestrais estavam no mar. Poderia prosseguir retrocessivamente sem interrupção, chegar aos peixes, e ainda assim seria verdade que cada passageiro transportado mil anos antes de sua época seria capaz de intercruzamento com seus predecessores. No entanto, em algum ponto, que poderia ser 1 milhão de anos, mas talvez pudesse ser menos ou mais tempo do que isso, não poderíamos intercruzar com um ancestral, apesar de o passageiro que tivéssemos trazido a bordo na última escala poder fazê-lo. Nesse ponto, poderíamos dizer que viajamos até encontrar uma espécie diferente.
A barreira não surgiria subitamente. Nunca haveria uma geração na qual fizesse sentido dizer, sobre um indivíduo, que ele é Homo sapiens mas seus pais são Homo ergaster. Podemos pensar nisso como um paradoxo, se preferirmos, mas não há razão para supor que alguma criança jamais tenha sido membro de uma espécie diferente da de seus pais, muito embora a ligação em cascata de pais e filhos se estenda retrocessivamente dos humanos até os peixes e além deles. Na verdade, isso não é paradoxal para ninguém além dos mais ferrenhos essencialistas. Não é mais paradoxal do que afirmar que nunca houve um momento no qual uma criança em crescimento deixa de ser baixa e passa a ser alta. Ou em que uma chaleira deixa de estar fria para estar quente. A mente jurídica pode julgar necessário impor uma barreira entre a menoridade e a maioridade – a batida da meia-noite do 18º aniversário ou seja lá qual for o momento estipulado. Mas qualquer um pode ver que isso é uma ficção (necessária para certos fins). Quisera eu que mais pessoas pudessem entender que o mesmo se aplica ao momento, digamos, em que um embrião se torna
“humano”!
Os criacionistas adoram as “lacunas” no registro fóssil. Mal sabem eles que os biólogos também têm boas razões para adorá-las. Sem lacunas o registro no registro fóssil, todo o nosso sistema de nomeação de espécies soçobraria. Os fósseis não poderiam ser nomeados; teriam de ser designados por números ou por posições num gráfico. Ou ainda, em vez de se discutir acirradamente sobre se um fóssil é “de fato”, digamos, um Homo ergaster ou um Homo habilis mais recente, poderíamos chamá-lo de habigaster. Muito se pode dizer em defesa dessa ideia. Não obstante, com frequência nos sentimos mais à vontade usando nomes separados para as coisas quando falamos sobre elas, talvez porque nosso cérebro tenha evoluído em um mundo no qual a maioria das coisas realmente se encaixa em categorias distintas, e em particular no qual a maioria dos intermediários entre espécies vivas estão mortos. Mas “O conto da salamandra” explica por que se trata de uma imposição humana e não algo profundamente arraigado no mundo natural. Usemos os nomes como se eles refletissem de fato uma realidade descontínua, mas, cá entre nós, lembremos sempre que, ao menos no mundo da evolução, isso não é mais do que uma ficção conveniente, uma concessão às nossas limitações.