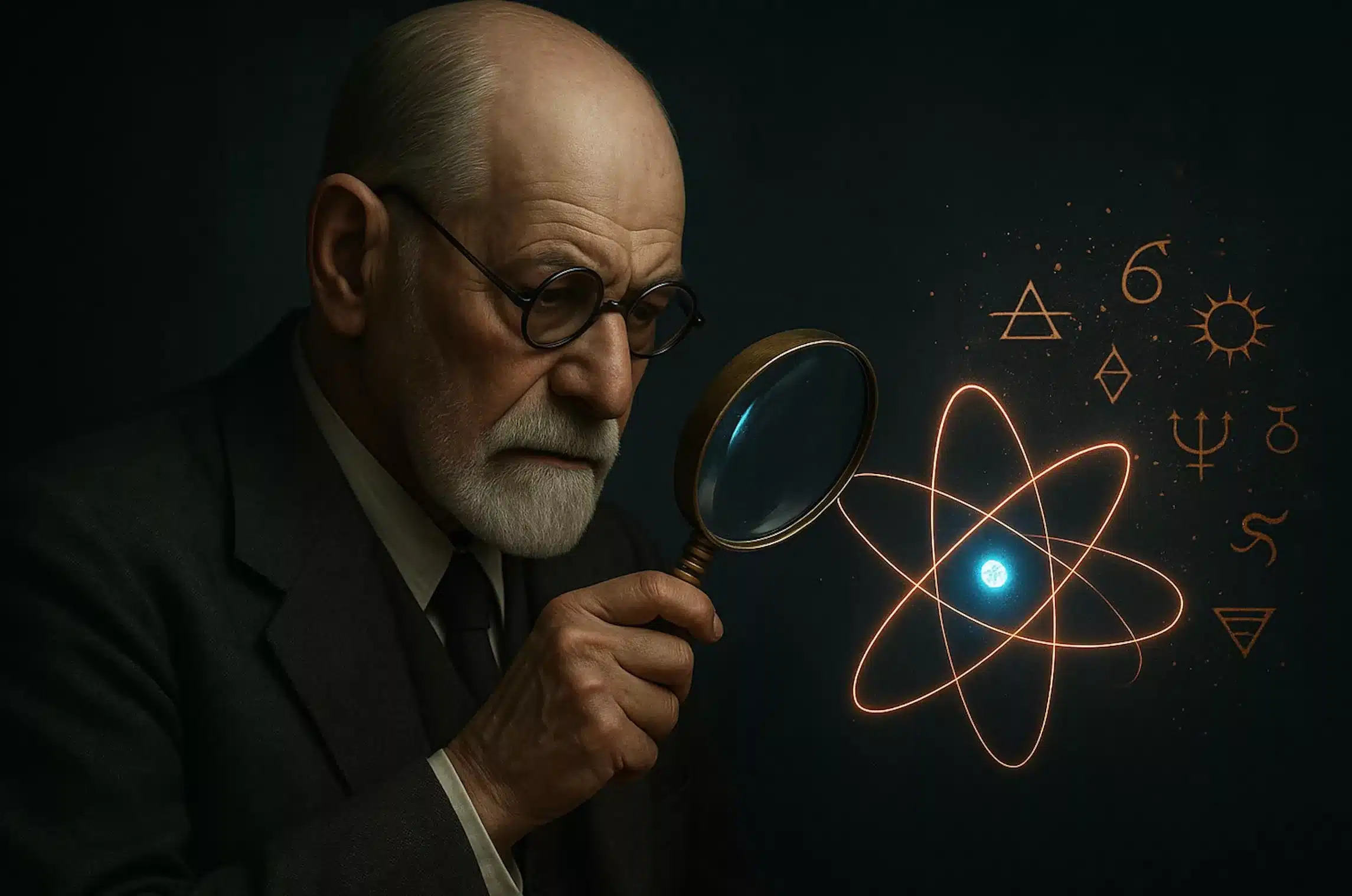Por Julio Lemos
Com a instauração praticamente inevitável do secularismo — acredito que para o bem –, insistir em assentar a moralidade sobre proposições religiosas não é apenas um erro filosófico, mas um ato irresponsável.
Como a certeza absoluta não é critério prático de ação, agimos com base na prudência. A prudência nos parece recomendar que, embora a existência de uma realidade transcendente que dê fundamento à moralidade seja possível, a sua inexistência também o é. Fosse necessário o conhecimento sobre essa realidade, ou autoevidente, não haveria debate sobre ele. (É possível encerrar um debate infrutífero usando apenas algumas palavras: “não aceito a sua premissa, e muito menos sou obrigado a aceitá-la”. E aqui o fundamentalismo prova-se sectário, porque finge poder dialogar com premissas que não são, e não devem ser, necessariamente, aceitas.) Mas sempre houve. A crença ou descrença nesse fundamento, ademais, não afeta a nossa existência, e portanto não afeta a substância de nossos atos. Isso é incontroverso.
Podemos adotar, portanto, qualquer uma das três premissas: 1) Deus existe; 2) Deus não existe; 3) “Deus existe” é uma proposição sem sentido, porque impassível de demonstração (o que é equivalente, sob certa perspectiva, ao agnosticismo). Substitua “Deus” por “um fundamento transcendente” e teremos uma formulação mais próxima da moral.(1), (2) e (3) são legítimos, por problemáticos que sejam de acordo com o juízo das mais variadas escolas; são, todavia, mutuamente excludentes. Se são legítimos e mutuamente excludentes, a sua conjunção é falsa, e não serve para fundamentar a moral, já que do falso podemos concluir qualquer coisa (ex falso quodlibetur); e essa consequência não nos interessa, por absurda.
O problema central é que não podemos obrigar ninguém a adotar qualquer uma das posições (1), (2), (3). Logo, se é nosso interesse promover alguma espécie de critério moral (ou ético, como queira), precisamos fundamentá-la em premissa que deva ser aceita *independentemente* do estabelecimento da verdade de uma das três proposições mutuamente excludentes. Kant, por exemplo, afirmou muitas vezes que a proposição (1) é indemonstrável (ou: não é necessariamente demonstrável), e que os argumentos em favor da existência de Deus dados pelos filósofos estão todos furados; mas que a moralidade tem necessidade prática de uma fé em Deus.(*) Nietzsche apoiou a moralidade (heróica, aristocrática) na verdade de (2): não há Deus, e por isso não só somos livres para, mas também devemos, transmutar todos os valores(**) — abster-se de criar valores é próprio de uma civilização decadente, como a oriental e, em grande parte, a civilização francesa e alemã do final do século XIX. Wittgenstein sustentava, na sua obra escrita,(***) a proposição (3); mas dizia agir, tal como confessava em seus diários,(****) com base em (1).
Há seiscentas escolas que procuram explicar a moralidade sem (necessariamente) recorrer a uma base transcendente: biologismo, evolucionismo, tradicionalismo, positivismo, personalismo, contratualismo, sentimentalismo humeano, emotismo, ética das virtudes, neurocientificismo, pragmatismo, utilitarismo, atavismo, egoísmo (Max Stirner), etc. Cada uma dessas escolas procura defender como central algum aspecto da nossa tendência em ver e pautar as coisas em valores e a formular normas para a conduta. Esses aspectos nos parecem todos aplicáveis, sem exceção. Visamos o útil; somos orientados pela tradição e por impulsos atávicos; firmamos contratos, e invocamos um contrato imaginário como base da paz social; somos presa dos instintos; explicamos comportamentos recorrendo a sinapses; padecemos de emoções que nos impedem de cometer atrocidades (ou ao menos nós, que não somos psicopatas ou sociopatas); abominamos o vício; queremos a felicidade e sabemos que a virtude custa esforço; desejamos formar o caráter nas dificuldades, e reconhecemos a preguiça e a inveja. Todas as teorias morais dizem alguma coisa de relevante sobre o fenômeno moral. Só não sabemos dizer se existe uma mais adequada; ou se uma delas descreve o núcleo do agir moral, devendo as outras ser objeto de descarte.
Penso que as escolas citadas — são algumas entre muitas — constituem uma prova cumulativa de que a moralidade é inseparável do homem. Somos seres morais. Construímos regras; submetemo-lhes à abstração, mas também as sentimos em nós; tendemos a fins que sabemos, nós, os aborígenes e os fanáticos e os descrentes, nos trarão benefícios genuínos em semanas, meses ou anos; desmascaramos, sob a capa da virtude, a vontade de cair bem dos religiosos e dos sábios deste mundo; contemplamos a vaidade dos intelectuais; a soberba dos “estudantes de humanas que não ganham dinheiro”; desmascaramos também as virtudes (!) dos que antes nos pareciam perversos e egoístas; desbancamos santos e admiramos ladrões; tentamos descrever a prudência usando um sutil modelo matemático; preocupamo-nos com o livre arbítrio em robôs.
Mesmo que o único consenso seja uma mera ordem jurídica, ou uma tradição odiosa aos olhos dos habitantes do futuro, ou a evolução — porque é difícil afastar o argumento de que a virtude é uma vantagem evolutiva –, teremos prestado homenagem ao caráter moral do homem. O fato de que a moral é inescapável é o único ponto que precisamos conceder. Sem essa concessão, caímos em um absurdum practicum. Essa premissa é o próprio fundamento da moral: a sua inescapabilidade. Mesmo que você rejeite essa premissa, você estará a afirmar que ela deve ser rejeitada por esse e aquele motivo; nesse mesmo ato, você proporá uma nova moral: a da inescapabilidade da escapabilidade da moral. A refutação do relativismo absoluto, que é circular e contraditório, se aplica também à sua nova moral. E mesmo que você, em resposta, afirme a contradição, não estará muito longe de Nietzsche, que propõe uma moral forte e vinculante, e até um moralismo semelhante ao puritano (não é por outro motivo que novas éticas, como o politicamente correto, são extremamente intolerantes, sujeitos às mesmas críticas a que se sujeita a inquisição: estatal, católica e protestante).
Restaria dizer por que é irresponsável rejeitar a inafastabilidade da moral, tout court, dizendo, por exemplo, que é necessário crer em um Deus ou em um fundamento transcendente para sustentá-la. Mas creio que isso tenha ficado claro. Se não, basta uma frase atribuída (porque recortada, e dita por um personagem) a Dostoievsky, a meu ver bastante apropriada para um psicopata: “Se Deus não existe, tudo é permitido“. Basta fazer os cálculos.
(Publicado em 23.VII.2013 em Dicta&Contradicta)
(*) Em Vorlesungen über die philosophische Religionslehre (Leibzig 1830), Kant afirma que “existe um absurdum practicum, pelo qual se demonstra que qualquer pessoa que negue isto ou aquilo deve ser um crápula [ein Bösewicht seyn müsste]; e esse é o caso da fé moral”. Bösewicht também se traduz como “vilão”. Uma coisa sabemos, sobre Kant: nem Tomás de Aquino era tão carola.
(**) A expressão é na verdade Umwertung aller Werte, “transvaloração de todos os valores”. A ética de Nietzsche, bastante conhecida, afirma a vida contra o sofrimento e o derrotismo cristão (pietista); a liberdade contra a escravidão; a autonomia contra a vida de ovelhinha, etc etc etc. Sua valorização da aristocracia é tão evidente quanto a picaretagem dos nietzscheanos de esquerda: “Die ritterlich-aristokratischen Werthurtheile haben zu ihrer Voraussetzung eine mächtige Leiblichkeit, eine blühende, reiche, selbst überschäumende Gesundheit, sammt dem, was deren Erhaltung bedingt, Krieg, Abenteuer, Jagd, Tanz, Kampfspiele und Alles überhaupt, was starkes, freies, frohgemuthes Handeln in sich schliesst” (Genealogie der Morale I, 7). Nada mais longe da moral nietzscheana que a indolência, a indiferença e o desprezo pós-moderno pelas virtudes. Nesse sentido, a ética das virtudes (defendida teoricamente por Aristóteles) está muito mais próxima de Nietzsche do que de um escolástico pudico como Duns Scoto.
(***) Lectures on Religious Beliefs, in Lectures and Conversations on Aesthetics, Psychology and Religious Belief, Oxford, 1966; A Lecture on Ethics, Philosophical Review, XLVIII, 1972.
(****) Comentados amplamente na biografia de Ray Monk, The Duty of Genius, Random House, 2012. Cf. os diários: Denkbewegungen: Tagebücher 1930-1932, 1936-1937 (MS 183).