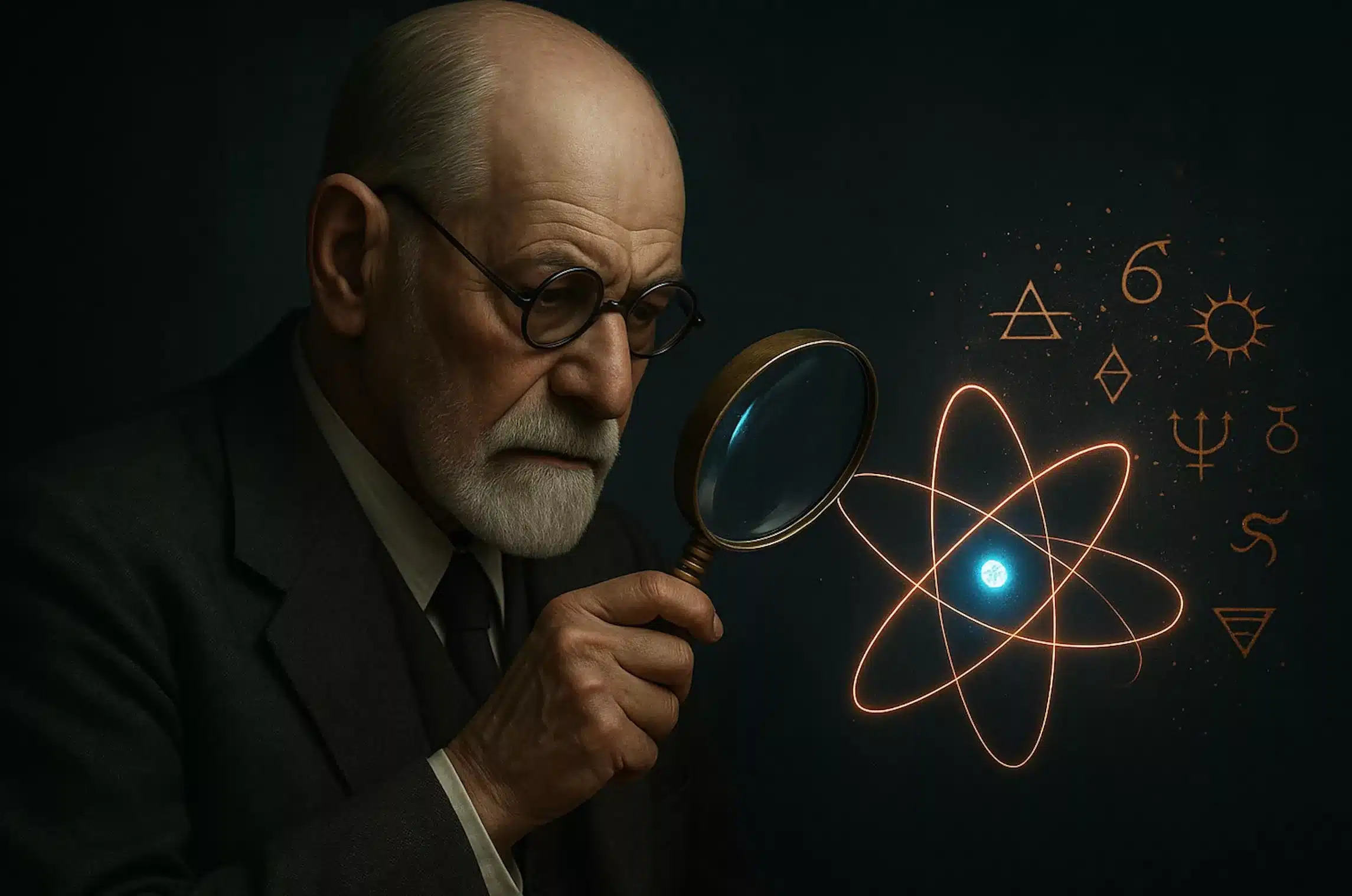Vamos mergulhar de cabeça em uma das questões mais polêmicas da Internet: temos verdadeiro livre-arbítrio? Isso surge frequentemente sempre que escrevo sobre neurociência, especialmente quando abordo os circuitos da fome, pois a ideia do cérebro como uma máquina física tende a desafiar nossa ilusão de livre-arbítrio completo. Os debates costumam se acalorar, pois é realmente desafiador para nossos “cérebros de carne” compreender uma questão tão abstrata.
No entanto, sempre acho essas discussões esclarecedoras. Na discussão mais recente, percebi que alguns comentaristas usam o termo “livre-arbítrio” de maneira diferente dos outros. Definir termos precisamente é sempre crucial nessas discussões, então quero detalhar o que considero serem as três definições ou níveis de livre-arbítrio com os quais estamos lidando. Parece-me que existe um nível superficial, um nível neurológico e um nível metafísico do livre-arbítrio. A linguagem nos falha aqui porque temos apenas um termo para nos referir a essas coisas muito diferentes.
No nível mais superficial, tomamos decisões, e algumas pessoas consideram isso como livre-arbítrio. Para ser claro, não conheço nenhum pensador ou filósofo sério que defenda que não tomamos decisões. Há uma discussão mais profunda sobre os mecanismos dessas decisões, mas as tomamos, estamos cientes delas e podemos agir com base nelas. Nessa perspectiva, as pessoas são agentes responsáveis pelas escolhas que fazem.
Mas para mim, como neurocientista, o aspecto mais interessante da questão do livre-arbítrio são os fundamentos neurológicos das nossas decisões. Este, acredito, é o nível mais importante e que deve guiar como lidamos com as decisões das pessoas. Já está bem estabelecido que nossa tomada de decisão, como um fenômeno neurológico, é apenas parcialmente consciente. Uma grande parte ocorre inconscientemente, antes mesmo de sabermos que estamos tomando uma decisão. Somos fortemente influenciados pelos circuitos inconscientes em nossos cérebros, que têm seus próprios propósitos evolutivos. Mas temos o que se chama de “função executiva” – a habilidade de considerar opções, avaliar consequências e tomar uma decisão deliberada, mesmo que contrarie o que os circuitos inconscientes nos impulsionam a fazer.
No entanto, a função executiva requer muito esforço cerebral, dependendo da força da motivação inconsciente que estamos tentando superar com pura força de vontade. E nossos cérebros também têm mecanismos que nos fornecem várias escapatórias – podemos racionalizar nossas decisões, concordando com o que nosso cérebro inconsciente deseja e nos convencendo de que isso é o que realmente queremos. Somos bons em resolver esses conflitos, enganando a nós mesmos para reduzir nossa dissonância cognitiva, incluindo a ilusão de que não estamos nos enganando.
Em outras palavras, parece que evoluímos a capacidade de manter uma ilusão de tomada de decisão livre, mesmo quando a realidade é que somos fortemente influenciados por fatores em grande parte fora de nosso controle. Do ponto de vista neurológico, portanto, temos um livre-arbítrio parcial. Podemos teoricamente tomar decisões livres, mas elas não são verdadeiramente livres das influências inconscientes além do nosso controle.
Curiosamente, penso que o mundo opera em grande parte nesse nível, entendendo que as escolhas das pessoas são apenas parcialmente livres e podem ser influenciadas inconsciente ou emocionalmente. Marketing e política operam amplamente nesse nível. O sistema jurídico também reconhece essa realidade. As pessoas são responsabilizadas legalmente por suas decisões e ações, mas a lei reconhece a influência indevida como um fator atenuante. Há o padrão da “pessoa razoável”, por exemplo. Como se espera que uma pessoa razoável reaja a uma determinada situação? Se a maioria das pessoas fosse emocionalmente manipulada para tomar uma decisão ruim, então talvez não seja justo responsabilizar alguém por tal decisão. A lei não trata as pessoas como agentes de livre-arbítrio perfeitos, mas como agentes semilivres cuja culpa pode ser atenuada por circunstâncias ou influências externas poderosas.
O mundo médico também trata as pessoas como se tivessem apenas semi-livre-arbítrio. A política de saúde pública, por exemplo, baseia-se no fato bem estabelecido de que a maioria das pessoas não toma decisões de saúde baseadas em fatos perfeitamente racionais. Na verdade, fornecer informações às pessoas tem apenas um efeito relativamente pequeno na tomada de decisões. Se você quer ter um impacto considerável, precisa manipulá-las emocionalmente ou mudar suas circunstâncias externas. Você precisa alavancar seus circuitos inconscientes para influenciar suas decisões conscientes em uma direção desejável. Você precisa fazer com que a decisão saudável seja a mais fácil.
Há também um nível filosófico ou metafísico ainda mais profundo na questão do livre-arbítrio – nossa tomada de decisão está livre da tirania de causa e efeito? Aqui a resposta também é clara: não. Do ponto de vista da física, nossos cérebros são máquinas determinísticas. Pode ser complexo e imprevisível, como o clima, mas ainda opera dentro dos limites da física. A mecânica quântica não nos salva desse fato, pois não temos controle sobre o resultado. É isso que os filósofos querem dizer quando afirmam que não temos verdadeiro livre-arbítrio.
A verdadeira questão é: qual desses três níveis é o mais relevante para nossas vidas? Devemos agir “como se” tivéssemos livre-arbítrio irrestrito, livre-arbítrio parcial ou nenhum livre-arbítrio? Com isso, quero dizer, que nível nossas leis, costumes e políticas devem refletir? Já argumentei que acho que eles refletem o nível médio – as pessoas têm livre-arbítrio parcial. Também acho que esta é a abordagem correta.
Não devemos fingir, pessoal ou coletivamente, que as pessoas são agentes totalmente conscientes e livres. Isso também é o que queremos dizer quando chamamos o livre-arbítrio de “ilusão” – queremos dizer que a parte 100% irrestrita é uma ilusão, quando na realidade temos apenas o livre-arbítrio parcial com um enorme componente inconsciente em nossa tomada de decisão. Por padrão, as pessoas devem ser tratadas como agentes livres, responsáveis pelas decisões que tomam, mas permitindo uma série de fatores atenuantes que reconhecem que as pessoas são apenas agentes parcialmente livres.
Enquanto isso, o nível filosófico é interessante, mas não acho que isso signifique que devemos tratar as pessoas como se fossem robôs sem qualquer controle sobre as decisões que tomam. Às vezes, isso é apresentado como a visão compassiva, mas acho que você obtém esse benefício do nível neurológico. Não acho que a defesa “as leis da física me fizeram fazer isso” seja prática, porque não distingue decisões mais conscientes das menos conscientes, ou fatores externos dos internos. Aplica-se igualmente a todas as decisões – então o que fazemos com isso? Não responsabilizar as pessoas por suas decisões também influencia suas decisões, e pode ser chamado de “risco moral”. Mesmo que filosoficamente não tenhamos livre-arbítrio, precisamos fingir que temos, senão a sociedade não pode funcionar.
Acrescentarei uma ressalva a isso – acho que o único aspecto da filosofia do livre-arbítrio que é útil é que ele pode e deve moderar nossa raiva e ira contra as más decisões dos outros, e nos lembrar de que “lá, mas pelos caprichos do destino, vou eu”.
No final das contas, a abordagem neurológica do livre-arbítrio é a mais prática e útil, sendo a mais utilizada na sociedade. Temos um livre-arbítrio parcial.
O artigo foi publicado originalmente por Steven Novella na Neurologica.