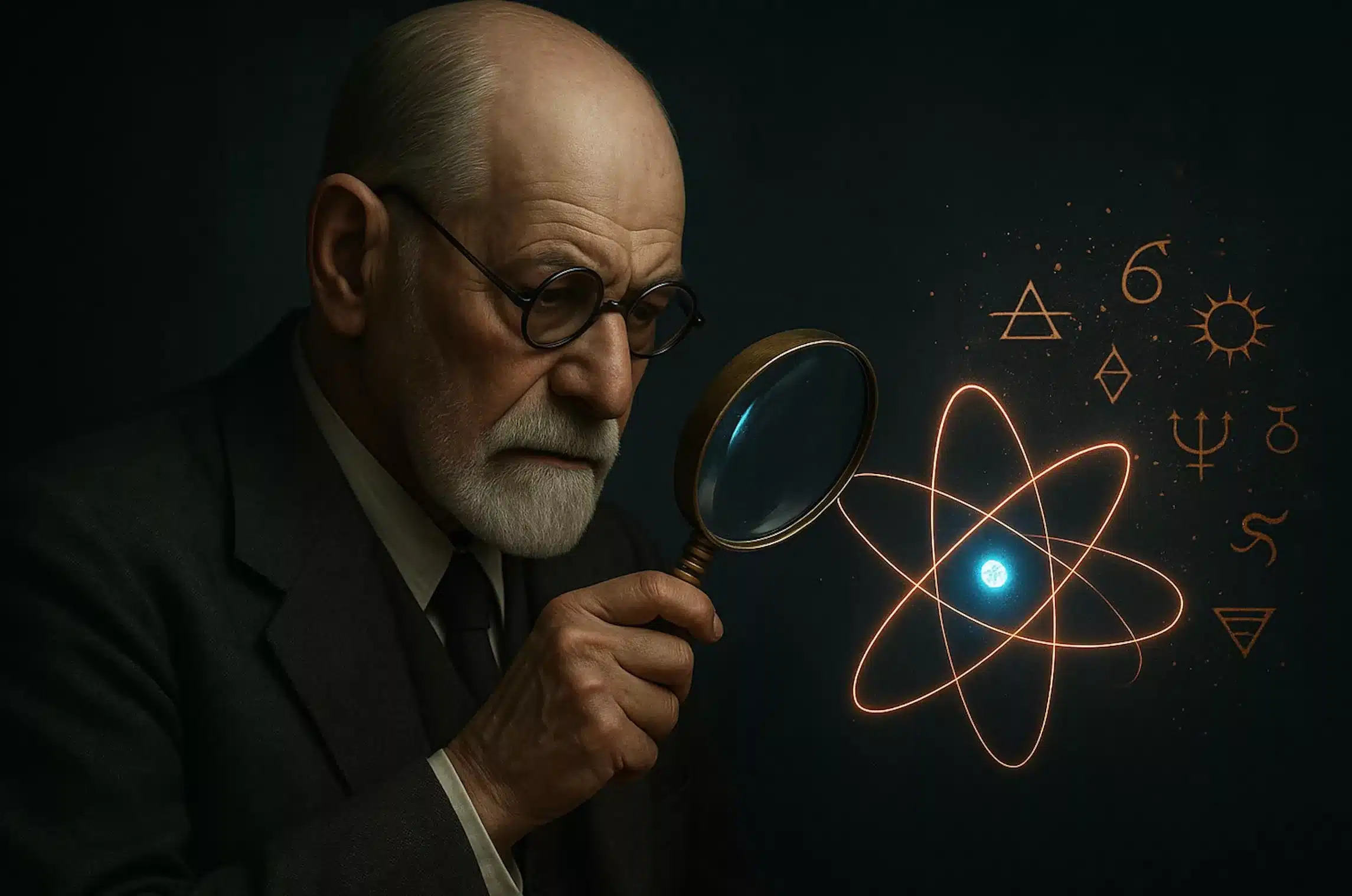Original por Massimo Pigliucci no Scientia Salon
Recentemente, hospedei um dos meus “Jantar & Filosofia” (Dinner & Philosofy) usuais em Manhatann [1], e dessa vez escolhemos o tópico do genocídio. Mais especificamente nós olhamos um artigo ainda não publicado pelo filosofo Paul Boghossian da NYU no “conceito de genocídio” (The Concept of Genocide [2]).
Eu acho o tópico fascinante e obviamente urgente, e o artigo do Boghossian é um estudo em como escrever um bom e acessível texto filosófico que de fato trata algo dito “óbvio” de uma perspectiva totalmente nova. Dito isso, naturalmente, eu tenho minhas reservas sobre a tese central do artigo, a qual vou eventualmente abordar no texto.
Logo no começo do ensaio do Boghossian nós encontramos, surpreendentemente, que existe uma discordância sobre a definição de genocídio e – mais importante – pessoas se preocupam que a palavra está simplesmente sendo dita por todo lado por cínicos motivos políticos, e logo está em perigo de perder qualquer eficacia que talvez tenha.
O termo ‘genocídio’ foi cunhado pelo jurista Raphael Lemkin nos anos 40, especificamente para indicar o que Hitler havia feito com os Judeus e – similarmente – os Turcos perpetraram contra os Armenianos vivendo na Turquia [3]. As nações unidas rapidamente adotaram o termo (em 1948), e a Convenção sobre Prevenção e Punição do Crime de Genocídio listava os seguintes critérios para definição de genocídio:
(a) Matar membros de um grupo (alvo);
(b) Causar danos corporais graves;
(c) Infligir deliberadamente num grupo condições de vida calculadas para trazes destruição física total ou parcial;
(d) Impor medidas intendidas a prevenir nascimentos no grupo;
(e) Transferir forçosamente crianças de grupo para outro grupo.
É Importante notar, a definição das Nações Unidas de genocídio não faz menção a palavra “Estado”, significando que as ações não tem que (necessariamente) ser condizidas com suporte governamental explícito. De acordo com Boghossian, então, os eventos de 1915 claramente se qualificam, independente das repetidas negações pelo governo Turco.
Existem, claro, objeções a essa interpretação. Uma é baseada na observação que o conceito de genocídio não existia em 1915, então o evento com os Armenianos não poderia se qualificar. Boghossian aponta corretamente que isso é tão tolo quanto dizer – como o filosofo pós-modernista Bruno Latour de fato disse! – que arqueólogos estão errados em dizer que o Faraó Ramses II morreu de tuberculose, porque veja, o bacillus responsável pela doença só foi descoberto em 1882 por Robert Koch. Espero que esse tipo de coisas não precisem se mais comentários.
Dito isso, e como Boghossian também aceita, a aplicação de alguns conceitos de fato é dependente do tempo: por instância, ninguém poderia ser maneiro antes do conceito de “maneirisse” se tornar parte da cultura. Entretanto, esse não aparenta ser o problema para os eventos de 1915, já que apenas o único conceito necessário é o de grupo étnico, junto com a intenção de ferir tal grupo.
Uma segunda objeção considerada por Boghossian é baseada na observação que a ONU passou legalmente a resolução de genocídio em 1948, acoplada as ideias de que leis normalmente não são aplicadas retroativamente. De novo, isso não é convincente de acordo com o autor, já que confunde a aplicação de um conceito com a aplicação da lei. Mesmo que a lei não seja retroativa, o conceito ainda pode se aplicar.
Boghossian chega, então, no ponto de seu ensaio onde começa a considerar que a definição da ONU em si é profundamente falha, que talvez faça a aplicação dela problemática, até mesmo moralmente problemática. Ainda mais, ele não parece ver uma saída fácil do problema, afinal.
O filósofo da NYU começa a articular três razões para usar a palavra e então analisar como elas lidam com a definição da ONU: 1) Nomear um fenômeno distinto; 2) para associar uma conotação moral negativa não ambígua ao termo (i.e., não existe algo como genocídio justificado); e 3) destacar que o crime é especialmente hediondo.
Sobre a distintividade do termo (#1), as palavras da ONU falam sobre tentar destruir o grupo “total ou parcial”, que levanta imediatamente a questão do quão pequeno pode ser a parte antes que paremos de falar de genocídio. Isso pode parecer um ponto trivial, até mesmo pedante, mas não é. De fato, existem potenciais consequências práticas grandes decorrendo disso. Por exemplo, um número de organizações Judias se engajou em mirar sistematicamente e matar por vingança alemães após a Segunda Guerra. Foi isso uma tentativa de “contra-genocídio”, por assim dizer? Dificilmente, mas a resposta depende do quão pequena é a parte no “parcial” é permitida pela definição.
Claro que Boghossian está ciente da possibilidade de resolver isso mudando o fraseamento da ONU por “total um substancialmente parcial,” mas então outros problemas surgem: São as 3000 pessoas que morreram no ataque do 11 de Setembro de 2001 nos EUA uma parte “substancial” (suficiente) da população Americana? Se não (como estou inclinado), existe uma distinção moral saliente entre os 3000 mil mortos e os 8000 mortos em Srebrenica, que a ONU de fato declarou genocídio (talvez apressadamente?)? [4] Você vê como coisas superficiais podem se desdobrar rapidamente quando olhamos para os detalhes.
Sobre #2 acima, a nada ambígua conotação negativa do termo genocídio, Boghossian pontua que – ao contrário do que está implicado pela definição da ONU – quase nunca os grupos alvo são os únicos grupos qua. Sempre há outras motivações operando também. Por instancia, o governo Turco teve a clara intenção (e adicional motivo) de construir um estado Muçulmano quando levou a cargo os eventos de 1915. Obviamente, entretanto, isso ainda não torna as ações justificadas (analogamente, o desejo de Israel por segurança – por mais que seja um objetivo razoável – não justifica a matança massiva de civis palestinos que vimos nos últimos tempos).
Duas objeções ao #3 (quão hediondo é o crime?) são discutidas em detalhe por Boghossian: primeiro, por que exatamente é moralmente pior focar um grupo do que apenas violar direitos individuais? Os grupos tem direitos além e acima do que os membros individuais? Segundo, se existem direitos de grupos, por que estes estão limitados aos grupos étnicos, raciais ou religiosos, mas não estão estendido, digamos, a ideologias políticas, classes socials e assim por diante?
Poderia ser argumentado que apenas grupos ao qual participar não é uma escolha deveriam ser considerados como alvos de genocídios, mas isso não fecha com a inclusão de religião e a exclusão de gêneros no tratamento legal do genocídio. E de qualquer forma, pergunta Boghossian, por que a escolha das vítimas deveria determinar o grau de imoralidade do crime?
Uma possibilidade é emendar a definição da ONU para incluir ódio do tal grupo, assim assimilando genocídio a crimes de ódio. Boghossian responde com um altamente improvável experimento mental envolvendo um ditador que extermina de forma aleatória um grupo étnico apenas para mostrar quem é que manda, e que o faz sem ódio. Eu acho que esse é possivelmente o mais fraco dos seus argumentos, embora, vamos voltar a isso abaixo.
Uma outra alternativa lógica seria ir na direção oposta, e expandir um pouco o limite de tipos de grupos que poderia se qualificar. Mas isso resulta em um problema diferente que é a falta de critério de parada: Boghossian pergunta então se as pessoas que trabalhavam no World Trade Centre em 9/11 seriam um grupo suficientemente coerente, por instância. Associação auto identificada também não ajuda, a menos que se concorde que, a faculdade da NYU (New York University) poderia ser alvo de uma tentativa de genocídio (na parte da administração, talvez?). Como sempre na filosofia, não seja enganado pela aparente trivialidade dos contra exemplos. Por mais planejados que eles pareçam, eles são construídos para deixar o ponto conceitual claro, e as implicações precisam ser consideradas, e não descartadas por nada.
No fim, Boghossian propõe que o problema fundamental é inevitável vagueza da própria ideia de matar pessoas, em oposição a claridade da ideia correspondente de matar uma pessoa. Ele pensa que a definição da ONU não lida bem com os três propósitos delineados, e ainda que é difícil ver como isso poderia ser concertado.
Ele conclui: “Mesmo sem o conceito de genocídio a disposição, ainda podemos apontar o que em 1915 mais de um milhão de Armenianos homens, mulheres e crianças foram ou intencionalmente mortos ou morreram durante deportações em massa que eram conduzidas com um total desrespeito a vida. […] O que eu acho é que deveríamos resistir a tentação de capturar tudo isso numa única palavra.”
Bem, sim, poderíamos fazer isso, mas estaríamos perdendo algo importante, penso eu, algo que vai de volta a razão pela qual Raphael Lemkin criou o termo genocídio pra começar. Por toda a vagueza e problemas do conceito, ele parece apontar a um tipo de crime particularmente hediondo, direcionado a uma grande categoria de pessoas em boa parte, apesar de não somente, devido a eles fazerem parte dessa categoria. E sim, isso aparenta ter ódio como componente crucial, mas de forma alguma é o único componente que do cocktail tóxico que leva pessoas em direção ao genocídio. Então a analogia com crimes de ódio é válida.
Claro que podemos apontar para os milhões de Armenianos, ou Judeus, e assim por diante, que foram mortos por um grupo de pessoas loucas ou outra (os Otomanos, os nazistas, ou o que for). Mas não foi apenas um grande número de pessoas mortas. Isso, por si só, é infelizmente de uma ocorrência frequente na história humana, até tempos contemporâneos. O ponto é que é particularmente hediondo quando a matança tem alvos específicos, em é posta adiante sistematicamente, por causa de uma vontade de eliminar um grupo inteiro de seres humanos. Existe uma boa razão para trazer a analogia com crimes de ódio mais geralmente – A tentativa de Boghossian de diminuir o paralelo não é obstante. Crimes de ódio são reconhecidos tanto em lei civil quanto criminal [5] como sendo ao menos em parte resultado de preconceito. Eles carregam uma maior valência moral que tipos similares de violência não direcionadas a grupos específicos porque o objetivo não é apenas mutilar ou matar indivíduos, mas mandar uma mensagem macabra para qualquer outra pessoa que se identifique com o mesmo grupo de que eles serão os próximos, ou ao menos de que eles não são bem vindos.
Ainda mais, a evidência é bem clara que crimes de ódio tem efeitos mensuráveis além do dano imediato as vítimas. Esses efeitos são psicológicos, e vão de distúrbios afetivos até terro generalizado entre membros do grupo alvo. No caso de genocídio, claro, é também a assombrosa escala da violência a qual a mente vacila, e que deserve atenção especial.
Sim, os pontos específicos de Boghossian são bons, e eles precisam ser considerados seriamente. Aliás, nós definitivamente deveríamos resistir a usos políticos cínicos da palavra “genocídio” colocando em risco permanente sua importância moral. Mas novamente, muitas outras palavras enfrentam o mesmo desafio. Apenas considere o quão fácil hoje em dia é ser considerado um “herói”, por instância. E a vagueza de alguns conceitos – como Wittgenstein disse – é muitas vezes a limitação do nosso entendimento, não que os conceitos não possam ser usados apropriadamente. Alguns conceitos são inerentemente confusos, e nós simplesmente temos que aprender a lidar com a sua confusão e engajar em discussões sérias sempre que um caso de fronteira significante surgir. Claro, isso é muito mais que debate acadêmico. Como Nicholas Kristoff do New York Times escreveu uma vez, nós “seremos julgados nos anos a vir por como respondemos aos genocídios sobre nossa vigia”[6].
__________
[1] Dinner & Philosophy meetup.
[2] O artigo do Boghossian pode ser baixado aqui. Foi publicado no Journal of Genocide Research em Março-Junho de 2010, junto com comentários por Berel Lang, Willam Schabas (O atual chefe da comissão de crimes de guerra da ONU na guerra de Gaza), e Eric Weitz historiador da CUNY.
[3] Genocídio Armeno, Wiki entry.
[4] O Massacre de Srebrenica , Wiki entry.
[5] Crime de ódio, Wiki entry.
[6] Frase do: “Nicholas Kristof: The Crisis of Our Times,” entrevista por Joel Whitney para Guernica, 28 de Junho de 2005.