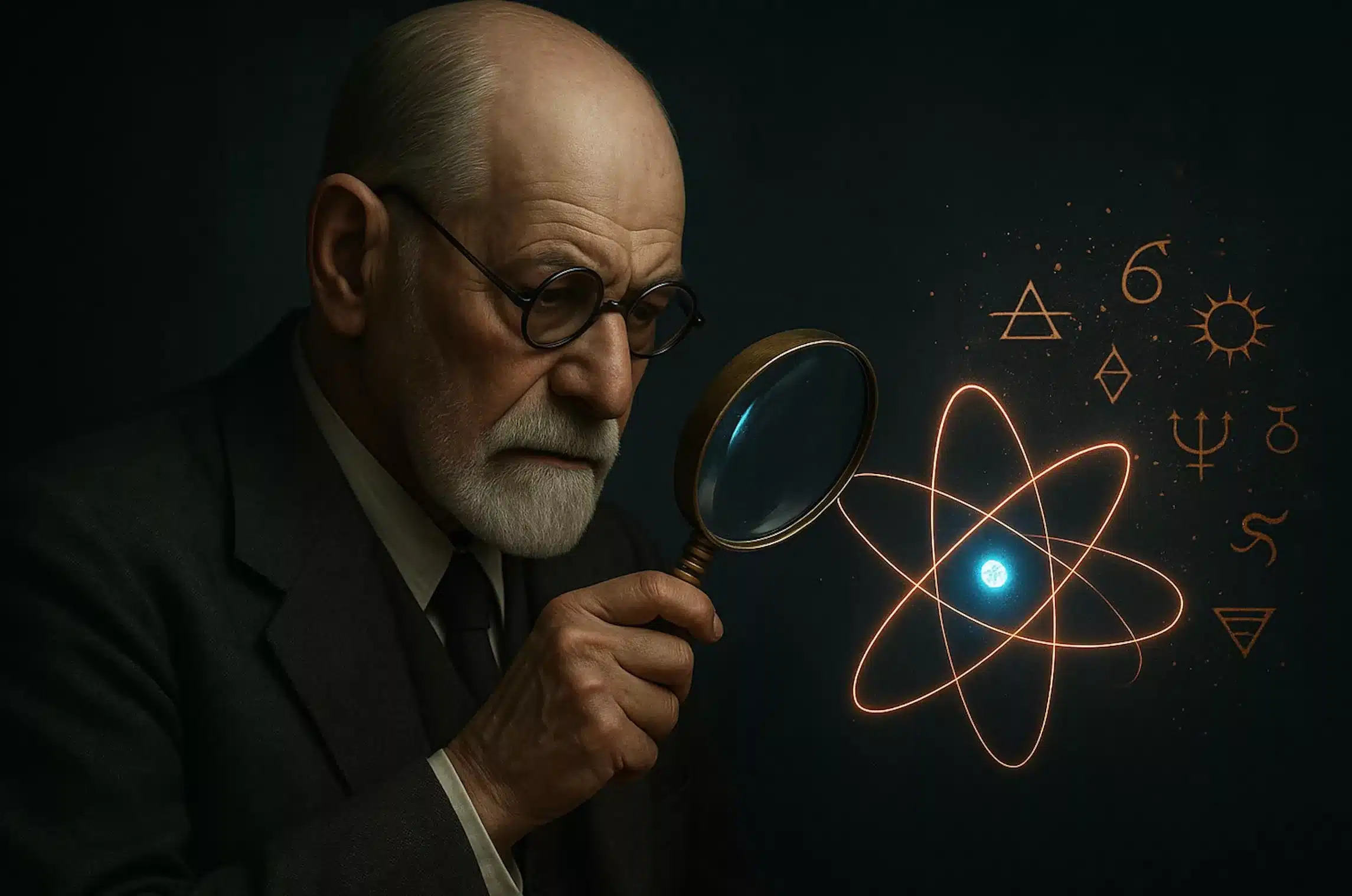Nota inicial sobre o texto
O texto a seguir é fruto de um trabalho feito por mim, Tiago Carneiro, e por Wallace de Souza, para a disciplina de metaética no curso de filosofia da UFRJ. Gostamos do resultado e achamos que seria legal publicá-lo, pois se trata de uma introdução à epistemologia moral, que acreditamos ser acessível para qualquer um.
Antes de qualquer coisa, estamos usando “moral” e “ética” como sinônimos, como muitos filósofos (talvez a maioria) fazem.
Introdução
Justificação, crença e conhecimento são conceitos estudados pela epistemologia. Quando esses conceitos recaem sobre a moralidade, estamos lidando com a epistemologia moral. A grande questão que se encontra no cerne da epistemologia moral é se o conhecimento moral é possível. Enquanto céticos negam essa possibilidade, os fundacionistas alegam que crenças morais são justificadas pela nossa intuição. Já os coerentistas sustentam a tese de que crença morais são justificadas por fazerem parte de nosso conjunto mais coerente de crenças. Mais adiante, iremos falar mais detalhadamente sobre essas três visões tradicionais na epistemologia moral e ver como elas se relacionam com outras questões metaéticas.
Conhecimento e justificação
Por muito tempo, na epistemologia, conhecimento foi definido como crença verdadeira justificada. Entretanto, esse conceito vem sido bastante criticado depois de Gettier ter mostrado em seu célebre artigo algumas circunstâncias em que crença verdadeira justificada não é suficiente para ser conhecimento. Independentemente de como o conhecimento é definido, a justificação continua sendo essencial para o conhecimento e para a epistemologia.
Assim como outras disciplinas filosóficas, a epistemologia pode ser aplicada a outras áreas da Filosofia. Desse modo, ela pode servir como uma disciplina de segunda ordem. Enquanto a ética estuda se ações estão ou não moralmente corretas, a epistemologia aplicada à ética, que é chamada de epistemologia moral, estuda a possibilidade da justificação e do conhecimento sobre as crenças morais. Como sem justificação não há conhecimento, e como pretendemos apresentar apenas uma introdução, iremos focar apenas na justificação neste trabalho.[1]
O que significa estar justificado? Na epistemologia, a justificação está ligada à verdade. Dizer que uma crença está justificada é dizer que existem boas razões em favor desta crença, isto é, boas razões para pensarmos que ela é verdadeira. Por exemplo, se alguém acredita que irá chover amanhã porque sonhou com isso, sua crença não está justificada, porque sonhar com eventos não é uma boa razão para crermos que eles irão de fato acontecer. Mas se alguém acredita que irá chover amanhã porque viu num site confiável de meteorologia, então sua crença está justificada. É possível defender que podemos estar justificados a crer em algo mesmo que o que cremos não seja verdadeiro. Essa é a posição falibilista. Desde que haja boas razões para ter essa crença, isso não seria um problema para quem defende o falibilismo. Por outro lado, se só podemos estar justificados a crer em ‘p’ se, e somente se, temos como saber que ‘p’ é verdadeiro, a justificação passa a ser muito mais difícil de ser alcançada. Essa seria a posição infalibilista.
Ceticismo
Muitos céticos têm argumentado assiduamente contra a possibilidade de as crenças morais estarem justificadas. Segundo eles, nós não podemos estar justificados a crer que torturar crianças é errado. Por mais absurdo que isso pareça, os argumentos apresentados pelo ceticismo têm se mostrado um grande desafio contra epistemólogos morais críticos do ceticismo.
Antes de analisarmos esses argumentos, é oportuno fazer uma distinção entre os tipos de ceticismo moral. Alguns tipos de ceticismo moral são consequências de teorias de outras áreas da metaética, como é o caso do ceticismo da teoria do erro, o qual afirma que crenças morais são sempre falsas, já que crenças só podem ser verdadeiras se corresponderem a algum fato, e, segundo essa teoria, fatos morais não existem. Há também o ceticismo não cognitivista, o qual argumenta que juízos morais não são crenças, mas sim expressões de outro estado mental, como emoções ou desejos, e assim sendo, não podem ser verdadeiras nem falsas. Embora esses tipos de ceticismo sejam sobre a moralidade, eles não serão analisados aqui, pois eles não estão relacionados com a justificação e a possibilidade de conhecimento de verdades morais, que é o tópico em questão. O tipo de ceticismo que iremos analisar aqui é o ceticismo sobre a justificação. Segundo esse tipo de ceticismo, nenhuma crença pode ser conhecida ou justificada.
Tortura, homicídio, estupro, sequestro… Seja qual for o ato de extrema crueldade que presenciemos, parece que sabemos que tal ato é moralmente errado de forma imediata e não inferida. É como se houvesse um senso de certeza que nos diz intuitivamente que o sofrimento é errado e que deve ser evitado. Apesar disso, os céticos argumentam que esse sentimento não pode ser tomado como evidência do conhecimento moral, pois é bastante comum nos enganarmos ao usarmos nossa intuição. Ademais, nossos sentimentos podem ser condicionados por diversos fatores como, genética e interação social. Há vários estudos sobre a psicologia humana, por exemplo, que mostram que nossas intuições morais sobre dilemas morais podem estar condicionadas à ordem em que eles são apresentados, ou ao dilema ser descrito na primeira ou terceira pessoa. Há também evidências de que o gênero, a classe social, a empatia e o momento em que as pessoas refletem sobre questões morais influenciam no juízo moral. Nenhum desses fatores são filosoficamente relevantes para justificar o que acreditamos ser correto nesses casos. Se nossas intuições forem tão suscetíveis a fatores irrelevantes para a justificação como esses, a possibilidade de que nossas intuições morais são confiáveis diminui consideravelmente. Esse argumento junto com o argumento do regresso, que veremos em seguida, estabelecem um grande desafio contra os defensores do conhecimento moral.
Antes de analisarmos o argumento do regresso, porém, é importante notar que o tipo de ceticismo abordado aqui não necessariamente implica em consequências práticas. Como diz Walter Sinnott-Armstrong:
[Céticos morais] não precisam ser nem um pouco menos motivados a agir moralmente, nem precisam ter menos razão para agir moralmente, do que seus oponentes. Céticos morais podem defender crenças morais com tanta firmeza quanto não céticos. Céticos morais podem até acreditar que suas crenças morais são verdadeiras em virtude de elas corresponderem a uma realidade independente. Tudo o que os céticos morais devem negar é que suas crenças (e de qualquer outro indivíduo) são justificadas em um sentido relevante, mas isso é suficiente para fazer o ceticismo moral muito controverso e importante. (SINNOTT-ARMSTRONG, 2006)
Argumento do regresso epistêmico
Um dos argumentos mais usados pelos céticos clássicos é o argumento do regresso infinito, que é usado não só contra crenças morais, mas contra todo tipo de crença. Esse argumento parte da premissa de que toda crença justificada deve sua justificação à inferência a partir de outras crenças, que também são justificadas por outras crenças justificadas, e assim por diante. Isso parece implicar em uma regressão infinita de crenças justificadas. Para elucidar a questão podemos pensar num exemplo: Justificamos nossa crença de que a vitamina C fortalece o sistema imunológico com a crença de que pesquisas cientificas respaldam essa alegação. Mas o que justifica a crença de que pesquisas cientificas comprovam que a vitamina C fortalece o sistema imunológico? Precisaremos apelar a outras crenças para justificá-las. Depois precisaremos repetir o processo, e assim formando aparentemente uma cadeia de crenças infindável. Estamos lidando com um problema da estrutura da justificação, e esse problema tem gerado um grande debate não apenas na epistemologia moral, mas dentro da epistemologia como um todo.
O ceticismo pode usar esse argumento de duas formas diferentes: concordando com a existência do infinito regresso ou negando-o. Na primeira opção é alegado que seres humanos não podem ter crenças justificadas porque a justificação depende de cadeias epistêmicas infinitas. E como seres humanos não têm uma mente infinita, jamais poderiam ter crenças justificadas. A outra forma de usar esse problema contra a justificação é afirmando que o regresso para em crenças que não são justificadas – o que implica em nenhuma crença estar justificada. Metaforicamente, a estrutura da justificação seria como um barco: se a última crença não está ancorada na justificação, a cadeia de crenças flutua livremente, sem estar justificada. Esse tipo de problema pode ser problemático para teorias como o realismo. Isso porque mesmo que haja propriedades morais, o ceticismo sobre a justificação nos impede de termos conhecimento sobre essas propriedades.
Numa tentativa de responder a essa e a outras questões da epistemologia moral, grandes teorias têm surgido, formulando argumentos bastante convincentes em defesa da justificação moral. Esse é o caso do coerentismo e fundacionalismo (sob a forma do intuicionismo).
Alternativas ao ceticismo
Toda crença é ultimamente sustentada por crenças que não estão ancoradas em alguma outra? Como podem existir crenças não inferencialmente justificadas? E se a justificação não for linear, como ela pode ser estruturada? Os intuicionistas e os coerentistas procuram dar respostas a esses desafios que surgem a partir dos questionamentos céticos. Os intuicionistas argumentam que crenças morais não inferenciais podem justificar nossas crenças morais. Já os coerentistas defendem que desde que nossas crenças façam parte de nosso conjunto mais coerente de crenças, estamos justificados a crer nelas.
Primeiro, exploraremos duas diferentes versões do intuicionismo, a começar pela que defende que as crenças não inferenciais são descobertas a posteriori. Mais especificamente, essa vertente do intuicionismo argumenta que essas crenças não inferenciais são provenientes da observação. Assim como não derivamos nossas crenças sobre o que vemos à nossa frente a partir de outras crenças, também não derivamos nossas crenças sobre o que é certo e errado a partir de outras crenças ao observarmos uma dada situação. Ao observarmos uma certa ação, poderíamos constatar se ela é moral ou imoral, assim como constatamos que o céu é azul ao olharmos para ele. Isso é chamado de “observação moral”.
Entretanto, à primeira vista, pode parecer estranho aceitar que podemos observar que uma ação é errada simplesmente ao observá-la. Constatar que há um objeto a sua frente ao olhá-lo parece diferente de observar que uma ação específica é certa ou errada. Afinal, não temos contato visual com o errado ou com o certo. Como diz Fisher: “não vemos “a erroneidade” flutuando sobre uma cena de esfaqueamento ou surgindo de uma carteira que é roubada”. O certo e o errado não são “objetos próprios” dos nossos cinco sentidos. Em outras palavras, o certo e o errado não são como a textura é para o tato, ou como a cor é para a visão, ou como o cheiro é para o olfato. Porém, há um problema se nos limitarmos apenas ao que os cinco sentidos nos informam diretamente. Se aceitarmos essa tese, teríamos que abandonar vários tipos de crenças que temos sobre o que a maioria das pessoas toma como observável. Como nota McNaughton, por exemplo: “Se estamos preparados a aceitar que podemos observar que um precipício é perigoso, ou que Smith está preocupado, ou que um objeto está mais longe que outro, então parece não haver razões para sermos caprichosos em relação à observação moral”.
Ainda assim, poderia ser objetado que a observação moral só seria possível porque ela seria dependente de outras crenças. Isso parece insinuar que, na verdade, crenças morais são inferidas a partir de outras crenças anteriores à observação. Poderíamos dizer, por exemplo, que alguém acredita que uma ação em uma ocasião é errada porque ela já aceita de antemão uma teoria moral. Entretanto, para a objeção ser bem sucedida, deve-se mostrar que os juízos morais são feitos em virtude dessas outras crenças. Como exemplifica Fisher, podemos crer que há nuvens no céu de maneira não inferencial mesmo que tenhamos outras crenças, como a de que o céu é azul, a de que horas são, ou a de o que será servido no jantar. Isso porque essas outras crenças não justificam a crença de que há nuvens no céu. Mesmo que elas sejam relevantes para formação da crença moral em questão, isso não significa que elas a justificam inferencialmente. Assim, dependendo de como concebemos a ideia de o que é que faz uma crença justificar outra, a observação moral pode ser defendida.
Um dos problemas que essa primeira forma de intuicionismo enfrenta, porém, é o de como ela poderia sustentar juízos morais como o de que “torturar é sempre errado”. A observação moral só nos mostraria quando uma ação específica sendo observada é certa ou errada. Seria difícil defender juízos morais como esses se só pudermos adquirir conhecimento moral a partir de observações. Uma possível saída talvez possa ser encarar leis morais universais do mesmo modo que a ciência encara as leis da natureza, mas isso levaria a todos os problemas filosóficos que a universalização de leis científicas também precisa enfrentar. Essa é uma das desvantagens que essa forma de intuicionismo tem contra a outra vertente intuicionista, que defende que os juizos morais não inferenciais são descobertos a priori.
A forma de intuicionismo que defende que o conhecimento moral é adquirido a priori depende de um conceito crucial: a autoevidência. Se uma proposição é autoevidente, estamos justificados a crer nela simplesmente ao entendê-la. Por exemplo, é provável que qualquer um que entenda o princípio da não contradição o aceitaria como verdadeiro, sem exigir mais razões para crer nele. Outras crenças que também são amplamente consideradas como autoevidentes são contas simples de matemática, ou a afirmação de que ‘nada pode ser completamente verde e completamente vermelho ao mesmo tempo’. Em nenhum desses casos, caso essas crenças sejam autoevidentes, se requereria mais justificações para crer nelas.
Porém, o fato de muitas pessoas tomarem uma proposição como autoevidente não significa que ela realmente seja. Podemos estar errados mesmo que tenhamos certeza que uma proposição é verdadeira. A lei do terceiro excluído foi tomada como autoevidente por milênios, e recentemente ela passou a ser questionada. [2] Então é possível que ela não seja autoevidente. Por isso, a pessoa que defende a ideia de autoevidência não está dizendo que ela tem um “monopólio” sobre a autoevidência. Henry Sidgwick, por exemplo, defendia que existiam crenças morais poderiam ser autoevidentes, mas, por podermos tomar certas crenças como autoevidentes mesmo que elas não sejam, ele propôs alguns critérios para diminuir a chance de não cairmos nesse erro.[3] Entre os critérios, estava o de que uma crença é provavelmente autoevidente se pensadores competentes acreditarem nela após muita análise. Ainda assim, ele dizia que mesmo que uma crença seja tida como verdadeira por “juízes competentes”, ela pode ser falsa, e portanto, não autoevidente. Consequentemente, podemos mudar de posição sobre o que acreditamos ser autoevidente. Concedamos que o racismo seja realmente errado em todas as situações. Sendo assim, é possível que eu acredite que o racismo seja correto e autoevidente, mas eventualmente eu posso passar entender por que ele é errado e mudar minha crença de que é autoevidente que o racismo é correto. E naturalmente, o oposto também pode ocorrer.
Outro aspecto importante dessa forma de intuicionismo é o de que podemos usar explicações e inferências para mostrar como viemos a acreditar em algo que consideramos autoevidente, mesmo que as crenças autoevidentes sejam crenças fundacionais. Por exemplo, imagine que João acredita que é autoevidente que o sofrimento de seres racionais deve ser evitado. Porém, por discordar de João, Maria dá um argumento em favor de outro princípio que ela considera autoevidente: todo sofrimento deve ser evitado, não importando se quem sofre é um ser racional ou não. Maria, então, diz que é arbitrário dizer que se deve evitar apenas o sofrimento de seres racionais. Afinal, sofrimento é intrinsecamente ruim, não importando quem está sentindo. Digamos que João é convencido por esse argumento, e adota o princípio de Maria como sendo na verdade autoevidente. Desse modo, mesmo que João tenha chegado no segundo princípio a partir do primeiro, João pode corretamente afirmar que o primeiro princípio que ele tomou como verdadeiro pode ser deduzido a partir do novo princípio. Se todo sofrimento deve ser evitado, consequentemente o sofrimento de seres racionais também deve ser evitado. Por isso, caso Maria esteja certa, o princípio autoevidente seria o princípio que considera todos os seres sencientes, e não o princípio que João tomava como autoevidente. Sendo autoevidente, esse princípio é não inferencialmente produzido. O raciocínio do primeiro para o segundo foi apenas um modo de evidenciar que o segundo princípio é autoevidente. Esse tipo de argumento se baseia na distinção que Aristóteles faz entre “prioridade lógica ou natural na cognição” e “prioridade no conhecimento de qualquer mente em particular”. [4] No caso, o princípio autoevidente teria “prioridade lógica e natural”, e o princípio anteriormente tido como autoevidente por João teve “prioridade no conhecimento” dele, pois foi reconhecido como verdadeiro primeiro em seu raciocínio.
Alguns outros pontos sobre o intuicionismo a priori também devem ser esclarecidos. O primeiro é o de que nem todos os que defendem esse tipo de intuicionismo são necessariamente não naturalistas. É verdade que muitos que defendem essa posição são não naturalistas, como Moore e Sidgwick, mas é possível ser um naturalista ao mesmo tempo que se é um intuicionista que advoga que o conhecimento moral é ultimamente adquirido a priori. Desse modo, não se pode rejeitar esse tipo de intuicionismo simplesmente porque se acredita que essa posição seria não naturalista e que o não naturalismo é falso. O segundo ponto que deve ser esclarecido é o de que não é preciso ter uma faculdade cognitiva especial para ser capaz de apreender proposições autoevidentes, ao contrário do que Mackie exige do intuicionismo. Como dito anteriormente, a observação e a reflexão são as únicas características necessárias para ser intuicionista, e elas não são tidas como características especiais além do comum.
Se o intuicionismo não se sustentar às críticas, há uma outra alternativa popular a se seguir: o coerentismo. Essa teoria defende que não há uma crença isoladamente mais justificada do que outra. Uma crença só pode ser justificada se ela apropriadamente fizer parte de nosso conjunto mais coerente de crenças. Ao contrário do que pode parecer inicialmente, o coerentismo não diz algo como “A justifica B, B justifica C, C justifica D, e D justifica A”. Se fosse assim, o coerentismo estaria defendendo um raciocínio circular. O erro desse equívoco é presumir que a estrutura das crenças que o coerentista defende é linear, quando na verdade o coerentismo defende uma estrutura holística de justificação. Fazendo uma analogia clássica: o sistema de crenças seria como uma jangada. Ela não boia na água por causa de uma madeira específica, e sim por causa da estrutura como um todo. Ou seja, a jangada seria como o sistema inteiro de crenças, e cada parte que compõe a jangada seria como uma crença individual. Então, só podemos estar justificados a ter a crença de que devemos fazer doações à caridade caso essa crença seja coerente com o nosso sistema de crenças morais.
Mas o que faz com que uma crença esteja apropriadamente dentro de um sistema coerente de crenças? O que conta como sendo coerente? Coerentistas diferentes podem divergir sobre quais critérios devem ser usados para aceitar que um sistema de crenças é coerente, mas aqui seguiremos Fisher, citando os critérios de Sayre-McCord (1996), que podem ser considerados compartilhados por coerentistas em geral.
O primeiro critério exige consistência lógica. Um conjunto coerente de crenças não pode ter uma dada crença e sua negação ao mesmo tempo. Não podemos estar justificados em crer que matar é errado e ao mesmo tempo crer que matar não é errado.
O segundo critério diz que um conjunto coerente de crenças não pode ter crenças evidencialmente inconsistentes. Não posso crer que é extremamente improvável que alguém ganhe na loteria e ao mesmo tempo acreditar que essa pessoa ganhou na loteria (se a pessoa ainda não viu o resultado da loteria, claro). Não é logicamente inconsistente ter essas duas crenças, já que uma não é a negação da outra. Porém, a primeira crença pesa contra a segunda crença.
Ainda que um conjunto de crenças possa ser logicamente e evidencialmente coerente, é possível que ele não seja coerente como um todo. Se eu tiver crenças que não têm relação alguma com as outras do conjunto, pode-se dizer que minhas crenças não são coerentes entre si. Considere um sistema de crenças contendo apenas as seguintes crenças: “está nevando”, “cachorros correm rápido” e “aviões estão caindo do céu”. Não há relação entre elas, e por isso esse sistema não pode ser considerado coerente. É preciso haver outras crenças para dar suporte a elas. Além disso, quanto mais conectadas as crenças de um conjunto é, melhor.
Outro critério importante é o tamanho do sistema de crenças. Seria fácil demais ter um sistema de crenças coerente se apenas os critérios anteriores forem atendidos, pois eu poderia ter apenas duas crenças que são bem conectadas e logicamente, e evidencialmente, consistentes entre si. Por isso, é preferível que quanto maior o sistema de crenças, melhor – desde que atenda a todos os critérios citados, claro. Para um defensor da navalha de Occam, porém, esse critério pode ser problemático. Aceitar esse critério à risca nos forçaria a dizer que um sistema coerente de crenças com crenças arbitrárias e infindáveis seria mais coerente do que um sistema com menos crenças, mas com crenças menos arbitrárias. Isso não parece muito razoável.
A coerência é considerada como necessária para a justificação por muitos filósofos, mas será que ela é suficiente? Uma das críticas mais comuns à tese de que a coerência é suficiente para estarmos justificados a crer em algo diz respeito a como as crenças podem estar relacionadas à realidade. O que a coerência entre as crenças tem a ver com a realidade? Histórias de ficção podem ser coerentes, mas não estamos justificados a crer nelas. O coerentista pode dizer que nesse caso não estaríamos justificados, já que a maior parte de nossas crenças apontaria para a falsidade das crenças em histórias de ficção. Porém, é possível crer em uma história completamente falsa que é coerente com tudo o que lembramos de termos experienciado. Como no caso de Jan Grzebski, podemos acordar de um coma e ter memórias falsas de como nossa vida e como o mundo era antes. Grzebski lembrava o mundo com lojas que vendiam apenas vinagre e chá, e com grandes filas de carro esperando para abastecer em postos de gasolina. O problema é que o mundo nunca foi assim. Ainda assim, suas crenças são coerentes entre si. Não parece, então, que ter um sistema coerente de crenças possa ser suficiente para nos garantir justificação, já que a coerência não parece ter uma conexão substancial com a verdade.
Um modo possível de tentar resolver o problema mencionado acima é o de adotar a teoria da verdade como coerência. Se algo for verdadeiro em virtude de pertencer a um sistema coerente de crenças, é fácil fazer uma relação entre justificação e verdade. No caso, a justificação levaria necessariamente à verdade. Portanto, se essa teoria da verdade for a correta, se a maioria de nossas crenças forem coerentes entre si, a maioria de nossas crenças seria verdadeira. Desse modo, a justificação como coerência pode ser conciliada com a verdade. Se essa ponte pode ser feita, evidentemente, isso diz respeito a um debate puramente epistemológico.
Então, somos levados, como Fisher nota, à seguinte pergunta: Se grande parte do debate epistemológico sobre a moral são os mesmos debates que se tem na epistemologia pura, por que não deixar o trabalho de resolver essas questões para os epistemólogos, e assim abandonar a epistemologia moral? Essa é uma boa pergunta, pois muitas posições na metaética dependem de questões epistemológicas. Como vimos, muitos filósofos deixam de ser realistas por conta de problemas na epistemologia. Se não houver nada de diferente na epistemologia da moral em relação à epistemologia aplicada a outras áreas, parece que seria melhor deixar esses problemas para os epistemólogos. Por outro lado, também é possível argumentar que a ética tem características específicas que impediriam o uso das conclusões da epistemologia pura em assuntos éticos. Por exemplo, o dilema darwiniano, que é um argumento epistemológico usado para atacar especificamente o realismo moral, não tem a pretensão de atacar “os realismos” de outras áreas. Pelo menos nesse caso, parece que há uma razão para o debate epistemológico específico sobre a moral. De qualquer modo, o alcance de questões epistemológicas é extremamente grande, e qualquer que sejam as conclusões da epistemologia, grandes impactos serão sentidos na metaética, ou até mesmo na ética como um todo.
Nota final
Os exemplos, a ordem e o modo de explicação de grande parte do texto foram baseados no capítulo sobre epistemologia moral do livro Metaethics: an introduction, de Andrew Fisher, que ainda não foi traduzido para o português.
[1] Reconhecemos que há discussões na epistemologia moral sobre a possibilidade do conhecimento moral como um todo, como no debate sobre o dilema darwiniano. Porém, seguiremos Fisher nesta exposição.
[2] QUINE, 1951. p. 43
[3] SIDGWICK, 1907, p. 211
[4] ARISTÓTELES. Analíticos Anteriores, 71b30– 72a5, 72b5–35. Referência tirada do artigo “Sigwick’s moral epistemology”, de Anthon Skelton, publicado na Journal of the History of Philosophy, Volume 48, Nº 4.
Bibliografia
FISHER, Andrew. Metaethics: An Introduction. Durham: Acumen Publishing Press, 2011.
QUINE, Willard van Orman. “Two dogmas of empiricism’. In: The Philosophical Review. 60 (1). Duke University Press, 1951. p. 20–43.
SIDGWICK, Henry. Methods of Ethics, Ed. 7. Londres: Macmillan, 1907.
SINNOT-ARMSTRONG, W. Moral Skepticisms. New York: Oxford University Press, 2006.
SKELTON, Anthony. “Sidgwick’s Moral Epistemology”. In: Journal of the History of Philosophy, Volume 48, Nº 4. Londres: Johns Hopkins University Press, 2010.