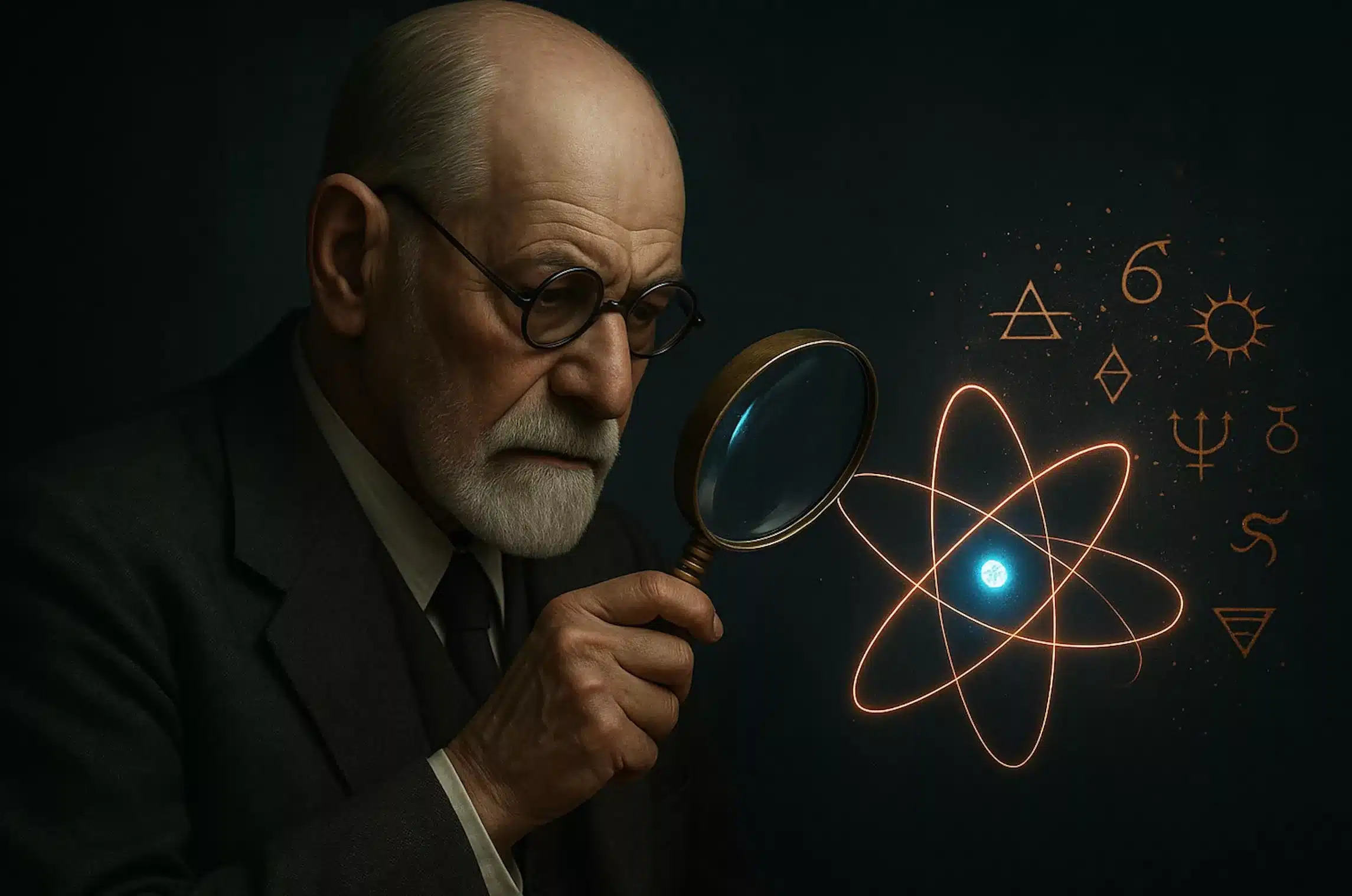Por Mario Bunge
Fiat vita, pereat veritas! (Níetzsche y Millán de Astray)
Somente no breve período intermediário de sua atormentada e alucinada jornada Nietzsche respeitou a ciência [1]. É a fase em que ele faz a revisão crítica (dando a essa palavra uma extensão muito generosa: Nietzsche não conhecia a crítica, mas a vituperação) do schopenhauerismo e do wagnerismo de sua juventude; o período semipositivista em que prepara seu ataque sistemático aos valores tradicionais da cultura, a todos os valores que não respondem afirmativa e categoricamente à pergunta: é útil à vida? Nessa fase de sua evolução mental – ou de seu pathos espiritual – ele acredita vislumbrar no darwínismo – e na Biologia em geral – sua concepção zarathústrica da vida, sua “filosofia de vida”, com a que antecipou Dilthey e Bergson. Neste período fugaz de sua permanente crise e convalescença, ele faz do conhecimento em geral, e do conhecimento científico em particular, o propósito da vida. Mas não o conhecimento puro (ele sempre criticou todo “purismo”: ele foi durante toda a sua vida um pragmático raivoso, le plus éclatant, le plus intrépide et le plus insensé des pragmatistes, nas palavras de Berthelott), mas aquilo que serve de perto a um fim, no fundo moral, e de transfundo social. Mas este era um estágio efêmero, como todos os seus; seu respeito pela ciência – como todo respeito pelo desconhecido – foi temporário, acabando por triunfar Dionísio, o demoníaco.
As ideias essenciais de Nietzsche são anticientíficas, antiracionalistas. Mas sobretudo acientíficas: ele próprio confessou ingenuamente não entender muito de ciência (preocupava-se mais com o homem de ciência e com o uso da ciência pelo homem): “E eu sei muito pouco sobre os resultados da ciência”.
Confissão desnecessária, como evidenciado pela infantilidade e grosseria de suas opiniões sobre as diversas ciências[2]. O criador de Wille zur Macht nunca teve vontade suficiente para estudar qualquer assunto em profundidade, embora várias vezes o tenha proposto (como quando quis fundar cientificamente a “sua” teoria do eterno retorno). A atitude do solitário de Sils María em relação a qualquer problema, em particular o do conhecimento (no qual ele evidenciou sua zarathústrica ignorância) pode ser resumida como um conjunto de aforismos (toda a sua obra é, na realidade, uma pilha inarticulada de aforismos fragmentários e incompletos, de pequenos enigmas de solução mal esboçada). E muitas vezes de anátemas apocalípticos, de maldições cheias de desprezo – aquele desprezo tão característico dos impotentes-, da fúria e do extraordinário brilho destrutivo.
Mas interessa sua atitude geral em relação ao conhecimento, e especialmente à ciência. Porque – aparte de sua enorme e nem sempre reconhecida influência no pensamento contemporâneos -, Nietzsche foi um produto típico da decadência da cultura europeia (que ele mesmo denunciou e ridicularizou) e, em geral, da decadência da filosofia iniciada com o positivismo e culminada com o anti-intelectualismo moderno. Nesse sentido, Nietzsche não é apenas um precursor direto e legítimo, mas já um expoente característico de grande parte da chamada filosofia moderna. Embora isso não seja reconhecido por muitos filósofos de profissão, para quem um Nietzsche, um Kcyserling, um Coudenhove-Kalergi, um Spengler ou um Rosenberg são teóricos excessivamente exaltados – e imprudentes! – da exaltação da violência, do sangue, dos instintos, do solo, do mito. Isso não significa que Nietzsche seja – como não são muitos de seus sucessores – em pureza um filósofo: ele é acima de tudo um lírico impetuoso e atormentado, um literato fragmentário e imaturo, um aristocrata rebelde e sofrido, com pretensão wagneriana de profeta; ele poderia antes qualificar-se como um pensador-poeta, ou poeta-filósofo, juntamente com Lucrécio, Dante, Gothe, Pascal e Kierkegaard, tipos culturais e mentais típicos de todas as épocas, e não exclusivos do século XIX, como acredita Karl Jaspers. Nietzsche queria destruir a “tabela de valores aceitos” e criar uma nova[3]. Os valores que ele quer destruir são os culturais – ele declara claramente -, os distintivos da espécie humana (daquela humanidade que teve que ser substituída por um punhado de “super-homens” apoiados na submissão de escravos). Os valores científicos, filosóficos, éticos, estéticos, religiosos, artísticos e, sobretudo, os valores sociais e políticos perigosos para a casta junker da qual – juntamente com seu admirado Bismarck – era verdadeiro rebelde. Aniquilá-los e substituí-los por novos valores, definida por sua eficácia (sempre o pragmatismo) na tarefa de elevar no homem (especifiquemos, o nobre) a vontade do poder: os valores que constituem a “moral dos senhores”. A cultura enfraquece, e os fracos devem ser dominados e suprimidos (através da “morte piedosa”, que ele se encarregou de oferecer à sua posteridade).
“Ciência! O que é ciência?” – exclama, e em seguida responde: – A experiência dos homens por seus instintos e o instinto de conhecer seus instintos.” Esta frase resume toda a epistemologia de Nietzsche. O único mundo verdadeiro é o dos instintos, dos sentidos, dos impulsos vitais: esse falso idealista é sempre, às vezes no fundo e às vezes abertamente, um sensualista feroz, um materialista grosseiro. O bem maior é a vida instintiva, não como puro vegetal animal, mas como manifestação livre da vontade de dominar; não a vontade do prazer repousante, mas a perigosa vontade de ação, luta e por ela dominação. É por isso que, por um momento, ele espera que a fisiologia venha em seu auxílio para construir a nova hierarquia de valores (estes já são absolutos: apenas os valores prevalecentes são relativos). Ele quer interessar médicos e fisiologistas no estudo de sua axiologia. “De fato, seria necessário, antes de tudo, que todas as tabelas de valores, todos os imperativos de que falam a história e os estudos etnológicos, fossem esclarecidos e explicados por seu lado fisiológico antes de tentar interpretá-los pela psicologia… “
Dessa vida apaixonada Nietzsche não exclui o conhecimento; mas ele faz algo pior com ela, ao transmutá-lo – com aquela alquimia verbal aprendida com os românticos – em “instinto de conhecimento”, servo da vontade todo-poderosa de dominar. Um instinto que mais tarde negará, para rebaixá-lo ainda mais: “Não há “instinto de conhecimento”: o intelecto não faz outra coisa senão servir os vários instintos”. A inteligência a serviço da vida instintiva, a serviço da “besta loira”, que, como bárbara e sem instrução, salvará a Europa da cultura, do raciocínio excessivo, do parlamentarismo estúpido. O grande poeta rejeita o conhecimento como tal: “E quero tratá-lo como paixão”. Ele zomba da objetividade serena da ciência: “Gostaria de tirar da ciência algo de sua solenidade”. Ele ri de sua busca paciente e ansiosa: “Você tem que tornar isso[ciência] mais perigoso, que exige mais sacrifícios, você tem que abandoná-la a si mesma.” Deve tornar-se parte da “vida perigosa” e da aventura, deve submeter-se ao “trágico sentimento da vida”, à insaciável “vontade de dominar”, esse Moloch sempre tem fome de valores especificamente humanos. Nietzsche não quer ciência, mas sabedoria; mas não uma “sabedoria” contemplativa no estilo oriental e romântico, mas um ativo e imponente “sabedoria”: Zaratustra é o Sábio dos primeiros estoicos, o Legislador de Rousseau, o Herói de Carlyle, mas de modo algum o Santo do Cristianismo, que chega à sabedoria, que é a felicidade, pela imersão passiva no Ser; em Nietzsche é o sujeito – um sujeito excepcional – que se apropria do objeto, o homem comum, emocionalmente, sim, mas essencialmente violento e destrutivo. A sabedoria que Nietzsche busca extrai da ciência seu poder de dominação, não sua potencialidade criadora e libertadora. Em Nietzsche, o ideal estoico e roussoniano se pragmatiza e bestializa.
O pragmático invariável admite que a ciência “tem sido muito útil para nós”, porque “alcançou um certo poder sobre a natureza”. Para ele, a ciência é “o domínio da natureza para fins humanos”, mas não à maneira de Bacon, pois o conhecimento é “uma faculdade para fins de comando”. Comte sugere-lhe esta nova maldição: “Condenemos os fantásticos excessos de matemáticos e metafísicos: mesmo que sejam necessários como experiência das possíveis contingências e armadilhas de tal método. A maior parte do trabalho intelectual na ciência é desperdiçada; também neste campo se aplica o princípio da maior estupidez possível.” A ciência, toda cultura, deve ser vigilada, pois “o conhecimento mata a força dos instintos, não deixa espaço para ação” (lembre-se de um parágrafo quase idêntico de Spranger e das conhecidas máximas de Napoleão). Por outro lado, a ciência que lhe interessa por seus resultados (infelizmente a agricultura prussiana não poderia prescindir de fertilizantes químicos!) “logo chega ao fim, e um refinamento maior não seria útil para os homens.” E sabe-se demais; basta! A sombra de Comte é projetada aqui com contornos arrepiantes.
O homem de ciência parece a esse lírico demente – e de fato estava em seu país – bem pouca coisa, um ser fraco e submisso que “perde a grandeza dos fins últimos” e “se ajoelha e se joga nos braços da Igreja, ou do Governo, ou da opinião pública, ou da poesia, ou música” (lembre-se que por muito tempo ele se proibiu de apreciar música e escrever versos, por aquele medo permanente de cair novamente no pecado wagneriano). É claro que Nietzsche não rejeita em princípio a humilhação, a subjugação da ciência: ele quer que ela sirva à casta aristocrática, e não à “barbárie”, essa “classe vulgar de homens” (primeiro os burgueses e depois os trabalhadores) que toma o poder “em vez da nobreza ou dos padres”. Ele está indignado com o acadêmico pacífico que considera a ciência como algo severo, frio e seco: isso “não é uma visão comovedora, não é um risco, não é um ser sozinho contra todos os deuses e demônios”.
E ele está ainda mais indignado que fabricantes e comerciantes usem a ciência a seu favor. Ele então esquece seu pragmatismo (as uvas verdes!) e exclama: “Ame a ciência sem pensar em sua utilidade!”. Gostaria de colocá-la – e em particular a biologia, no que também estava à frente de seus tímidos contemporâneo – a serviço de seus ideais antissociais e de homem das cavernas. E sua impotência se traduz, como sempre, em profecias e maldições: “Tempos virão em que lutas serão travadas pelo domínio da terra, e essas lutas serão travadas em nome de doutrinas filosóficas. E agora se formam os primeiros grupos de forças, que se exercitam sobre o grande princípio da afinidade de sangue e raça.”
O aspirante a profeta bíblico combate a verdade; não só a estabelecida, mas “o verdadeiro”: combate toda “teoria de um mundo verdadeiro”, se rebela contra “a tirania da verdade”. Ele exalta o erro: “O erro é a base do conhecimento, da aparência”. O erro não é um verme nocivo, nem um momento inevitável de um processo necessário, que por isso tem sua função criadora. Não, devemos permanecer no erro: “Devemos amar e cultivar o erro; é o colo da mãe do conhecimento”. Não só o erro voluntário, mas o deliberado, a mentira: “A mentira torna-se para nós uma condição necessária para a vida” (quem duvida?). Não é a verdade que importa: são as crenças que movem o homem. E “o que precisa ser provado para ser acreditado não vale muito”. A ciência não estabelece “verdades”, mas aparências, ilusões; o homem “engendra de si mesmo uma infinidade de erros e limitações ópticas”; de todos as assim formadas, “restam apenas as opiniões com as quais a vida orgânica se compatibiliza”. Por exemplo, a pesquisa histórica só é útil e viva quando é impulsionada por um “propósito vital”; isto é, quando, longe de pretender estabelecer verdades, tenta fornecer argumentos favoráveis. A verdade está “sempre morta de antemão”: só amalgamada com “outros erros e instintos” é que pode ser vitalizada. “Nenhum deles [filósofos] compreendeu a inutilidade da verdade para a vida e a subordinação da vida a uma perspectiva de ilusão.”
“A falsidade de um conceito não é, para mim, uma objeção contra ele; a questão está em até que ponto ele estimula a vida, preserva a vida e a raça. Sinceramente, acredito que as opiniões mais falsas são justamente as mais indispensáveis para nós” (subr. M. B.). A quem pertence essa sentença tenebrosa? Ao ressentido e fracassado filólogo ou a um” Übermensch” atual? O que Rosenberg pensa sobre a verdade, senão o que seu mestre deixou escrito cinquenta anos antes do surgimento do Mito do Século XX? Neste último impresso, lê-se: “para nós, verdade não significa o que é logicamente correto ou falso, mas sim busca-se uma resposta orgânica: fecundo ou estéril?”.
Ninguém negará que Nietzsche foi um profeta, um profeta triste, diga-se de passagem. Como quando profere: “Somos espíritos impacientes e ardentes que só creem em verdades que se advinham: querer provar tudo nos torna antipáticos; fugimos do aspecto dos sábios e suas cadeias de silogismos.” Ódio, mas mais ainda o temor a verdade, e sobretudo que a ciência e suas verdades se difundam nessa “repugnante mediocridade democrática”. É que “nem todas as verdades são boas para todos”, explica ao amigo Lanzky.
As ideias de Nietzsche não constituem tanto um sistema filosófico[4] como uma “visão de mundo” vaga e obscura, mais sincera do que pensada, mais apropriada a um louco demoníaco do que a um filósofo real. Concepção biologista em geral, como se sabe. Ou melhor, metabiológica. Teve, no entanto, um tempo em que foi mais seduzido pela concepção mecanicista, “não como uma explicação demonstrada do mundo [não como ciência!] mas como uma concepção que impõe a maior severidade e disciplina [que ele sempre invejou por não possuir ao mesmo tempo em que queria impô-la aos outros] e tenta banir todo sentimentalismo.” Ele acredita encontrar no método mecânico mais nobreza e, sobretudo, uma “renúncia ao conceito”, como na matemática (erro idêntico ao de Gothe). Momentaneamente ele é seduzido pelo pensamento mecânico porque acredita que realizará seu sonho dourado, a morte do conceito (aqui ele já renega Gothe e se aproxima de Carlyle): “Terminará com a formação de um sistema de signos: renunciará a explicar, abandonará o conceito de ‘causa e efeito’ “. Por um segundo ele exclama: “A explicação mecanicista do mundo é um ideal”. Ele é cativado pela possibilidade de que o “super-homem” possa subjugar o mundo ao seu redor – tanto o natural quanto o social – bem como uma máquina: sem piada! O homem da massa é necessário para o “super-homem”, e para isso devemos torná-lo “o mais utilizável possível e aproximá-lo, na medida do possível, da máquina, que nunca se equivoca”. Pois “uma alta cultura [aristocrática] só pode ser construída em terreno vasto, numa mediocridade sadia e fortemente consolidada…” “Por muito tempo ainda, o único fim deve consistir na diminuição do homem, pois é necessário, antes de tudo, criar uma grande base sobre a qual a raça dos homens fortes possa se erguer.”
Nietzsche dota o romantismo alemão de garras (Spengler, que o reconhece como professor, o dotará de cascos). Quer limpá-lo do sentimentalismo: quer que o rosal romântico retenha apenas raízes, seiva e espinhos. Sua “filosofia do mito” não é contemplativa: tem um valor pragmático; como será mais tarde para Rosenberg, o mito não contém apenas a sabedoria última da raça, mas a mitologia – não a história ou a sociologia – deve ser a “ciência” normativa da vida. E lembre-se que boa parte da Filologia, inaugurada pelos românticos, nada mais era do que mitologia, descrição e exaltação dos mitos dos “arianos loiros”, como os chamava o admirador de Gobineau que foi Nietzsche. Por isso, rejeita a história como ciência: os românticos alemães e seu professor Burckhardt (que conheceu durante seu ensino em Basileia) lhe ensinaram que a história não é uma reconstrução dolorosa e erudita da realidade passada, mas uma “evocação mágica do passado”. Essa foi a raiz de sua “filosofia de vida”, uma mistura disforme e sombria de historicismo romântico, metafísica schopenhaueriana e materialismo biológico (ou melhor, vitalista, metabiológico). É claro que isso não é uma filosofia, por mais tolerante que seja a definição de filosofar. Mas será que é a dos teóricos da violência que o seguiram? Em suma, percebe-se que a atitude de Nietzsche em relação à ciência é, em geral, negativa. Quando não é, é na realidade algo muito pior: uma pretensão limitadora – mais brutal, mas menos detalhada que a de Comte – e pragmática no pior sentido: no sentido de deformação, de prostituição da ciência como sacerdotisa do loiro Moloch. Nietzsche se adiantou em vários anos – mantendo vivo o pior da tradição romântica – o movimento da “crítica das ciências” e, em geral, o irracionalismo contemporâneo. O que essa reação lhe deve nem sempre foi claramente reconhecido. Há às vezes antecedentes de família que é preferível calar…
Referências
[1] Nós nos servimos das Obras Completas de F. N., em uma tradução um tanto livre de E. Ovejero y Maury(Madrid, Aguilar, 1932-35), em 14 volumes. A “crítica” da ciência está principalmente nos volumes I, II, XI e XII.”
[2] Opiniões que, como todas as suas, não podem ser levadas muito a sério: não apenas pelo seu desejo doentio de parecer original, independente e rebelde (quando na verdade não houve homem mais influenciado e ligado ao seu tempo do que ele!), mas também porque, dos 19 anos que abrangem sua produção séria (de 1869 a 1888), pelo menos dez – os mais originais – foram intermitentemente dominados pela loucura – afastada e novamente exacerbada pelas drogas – que o levou primeiro ao isolamento (solidão forçada, nada heroica, e que principalmente fez furor nos salões finisseculares) e finalmente (1900) à sepultura, hoje zelosamente guardada pelos Übermenschen que ele previu. Para Nietzsche, assim como para Rousseau e Kierkegaard, vale a sentença de Fichte: Como é o homem, assim é a sua filosofia.
[3] O “criador de valores” é o aristocrata distinto, assim como o “líder ético” será para Nicolai Hartmann o “descobridor de valores”; a grande diferença entre a axiologia nietzscheana e o absolutismo de Hartmann reside no fato de que Nietzsche desejava uma “transvaloração de todos os valores”, enquanto aqueles que se proclamam seus discípulos não aceitam nenhuma rebelião contra a rígida e “objetiva” tabela de valores: essa é a diferença entre a aspiração e a manutenção de um objetivo.
[4] Como poderíamos sistematizar o absurdo, a contradição permanente e viciosa, a afirmação apodítica, a loucura? Nietzsche tentou impor uma ordem às suas ideias e até mesmo se propôs a passar “seis anos de meditação e silêncio” para isso. Mas Niza pode mais do que ele, o discípulo do “filósofo da vontade”.