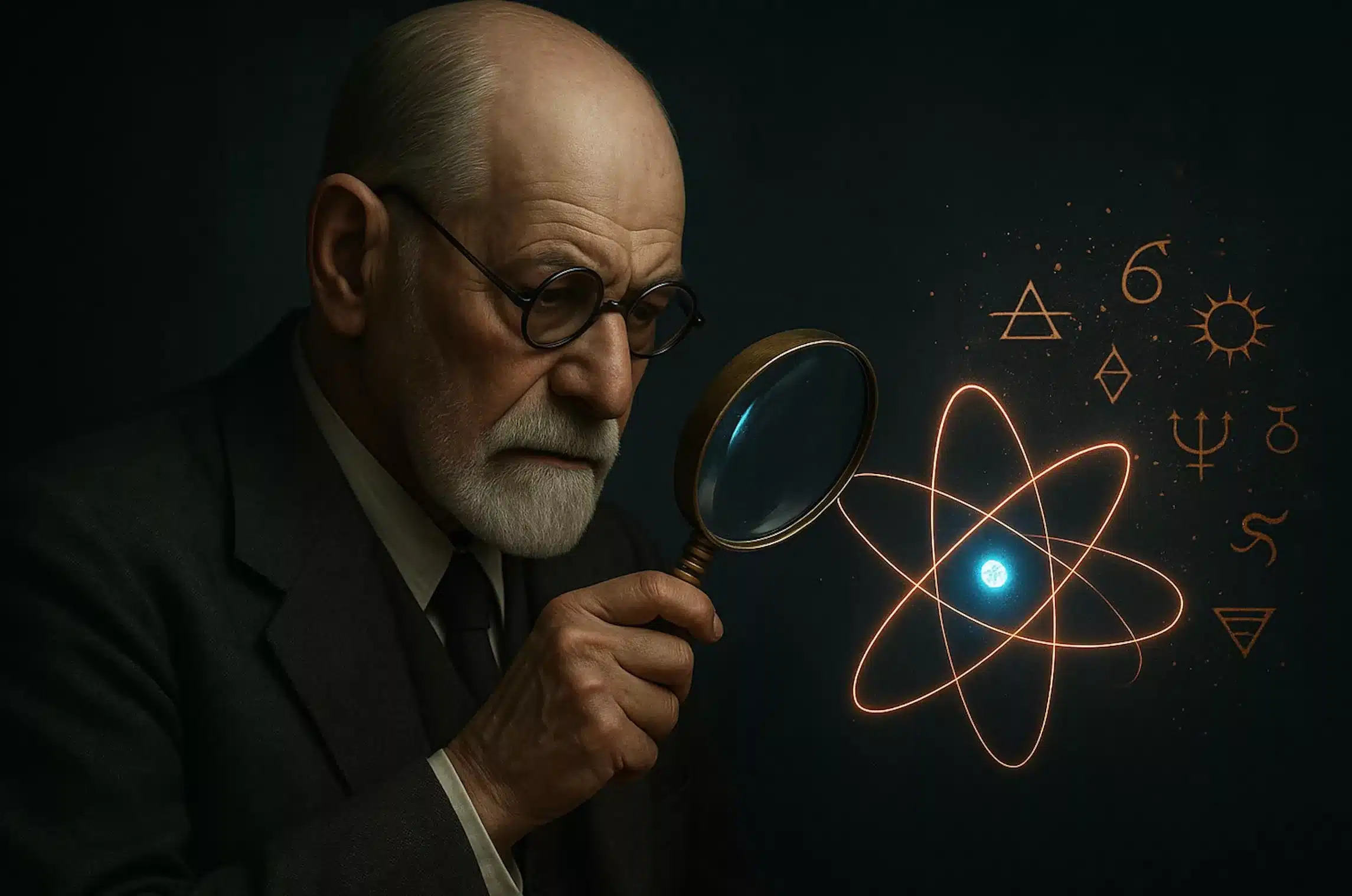O contra-Iluminismo está vivo e bem. Os estudantes do Iluminismo são frequentemente confrontados por difamações mais ou menos rudes. Às vezes é caricaturado pelos pós-modernistas (ignorantes dos escritos de David Hume), que acusam os lumières de estarem excessivamente confiantes no poder da razão. Outras vezes, o Iluminismo é denunciado como globalista (pelos nacionalistas), laissez–faire capitalista (pelos socialistas) ou irreverente para a religião (ou seja, pelos fiéis). Mas, nos tempos modernos, nenhuma outra acusação é mais séria do que a ofensa de que o Iluminismo endossou a escravidão.
Existem duas partes para essa cobrança. A primeira é a acusação de hipocrisia. Apesar de proclamar que “todos os homens são criados iguais”, diz o argumento, havia um amplo apoio à escravidão, que ridicularizava as aspirações de liberdade do Iluminismo. A liberdade iluminista, nessa visão, significava apenas a liberdade dos abastados de atacar os oprimidos e silenciados. Em segundo lugar, alguns argumentam que a noção de inferioridade racial foi uma criação do pensamento iluminista. Ou, como diz a Slate (revista online), “o Iluminismo criou o raciocínio racial moderno”. Às vezes, essas duas acusações se contradizem: afinal, só se pode ser hipócrita se alguém se sustenta com um alto padrão, não se for um completo racista. No entanto, essas acusações devem ser refutadas.
Vamos primeiro examinar a afirmação de que os lumières criaram o raciocínio racial e depois examinar a conexão entre a escravidão e o Iluminismo.
Racismo antes do Iluminismo
A alegação de que o racismo nasceu no século XVIII é um sintoma de amnésia histórica seletiva. É o neo-rousseaunismo de segunda mão, na pior das hipóteses. Felizmente, é fácil refutar. O racismo tem uma longa e feia história.
Os gregos escravizavam os bárbaros, que consideravam escravos naturais, destituídos da plena capacidade da razão. Aristóteles foi um dos principais defensores dessa doutrina. Em “A Política”, ele escreve: “Onde há então tal diferença como aquela entre alma e corpo, ou entre homens e animais… as menores classes são, por natureza, escravas, e é melhor para elas como para todos os inferiores que devam estar sob o domínio de um mestre”. Tanto Platão quanto os romanos tinham preconceitos semelhantes. Em “De Provinciis Consularibus”, Cícero comenta que os judeus e sírios são “nações nascidas para a escravidão”. Embora a escravidão fosse fundamental em civilizações antigas, a maior parte do preconceito foi dirigida contra estrangeiros étnicos, não enquadrada nas categorias raciais em que pensamos hoje. Mas essa distinção deve ter parecido um tanto acadêmica para o bárbaro escravizado.
Várias fontes do período islâmico inicial revelam animosidade racial inequívoca. Por exemplo, o poeta Suhaym, nascido escravo na África, escreve: “Se minha cor fosse rosa, as mulheres me amariam / Mas o Senhor me marcou com a negritude.” O poeta da corte negra Abu Dulama diverte seu califa zombando subservientemente de sua cor da pele: “Somos parecidos na cor; nossos rostos são negros e feios, nossos nomes são vergonhosos.” O leitor das Mil e Uma Noites certamente está ciente de sua incorreta falta de lógica política em relação à raça e à sexualidade. Bernard Lewis, em “Raça e Escravidão no Oriente Médio”, rotula os “supremacistas brancos” Rei Shahzaman e Rei Shahriyar como “fantasias sexuais, ou melhor, pesadelos de uma qualidade tristemente familiar”.
Também podemos encontrar tentativas precoces de categorizar a humanidade em grupos raciais. Certos aspectos da fisionomia humana, associados a raças específicas na realidade ou na imaginação são frequentemente insultados. Escrevendo no século IX, Ibn Qutayba diz que os negros “são feios e deformados porque vivem em um país quente. O calor os cozinha no útero e enrola os cabelos.” Essa teoria racial foi reforçada por um raciocínio pseudocientífico: um clima temperado era ideal, enquanto o frio fazia com que os brancos ficassem “mal cozidos” e o calor excessivo “cozinhava demais” os negros. Said al-Andalusi despreza igualmente tanto os nortistas quanto os sulistas como pessoas “que são mais semelhantes a animais do que a homens”. Outro autor, Ibn al-Faqih al-Hamadani, elogia o povo iraquiano por não ser nem branco nem negro demais: “Eles assam no útero até serem queimados, de modo que a criança sai algo entre preto, escuro, malcheiroso, fedorento e enrugado, com membros desiguais, mentes deficientes e paixões depravadas, como os Zanj, os etíopes e outros negros que se assemelham a eles [ênfase minha].”
Enquanto isso, na Europa medieval, o anti-semitismo era desenfreado. Esse tipo especial de racismo tem suas raízes no ódio religioso. Os judeus têm sido alvo de suspeitas desde a antiguidade, mas a paranoia atingiu novos picos durante as Cruzadas. Na propaganda dos cruzados havia muita ênfase na violência meritória e no sofrimento de Cristo na cruz. A acusação perigosa de deicídio era muitas vezes dirigida aos judeus. Após o chamado às armas de Urban II, alguns cruzados em Rouen comentaram que era uma preocupação secundária combater os inimigos de Cristo no leste, “quando diante de nossos olhos estão os judeus, de todas as raças os mais hostis a Deus”. O abate seguiu-se. Esses assassinatos foram indiscutivelmente motivados por oportunismo econômico e hostilidade anti-judaica, e não por repulsa racial. No entanto, isso logo mudou. Em meados do século XII, surgiram imagens de judeus sub-humanos, criaturas satânicas com nariz de gancho. Judeus foram mortos por serem judeus. Como Gavin Langmuir mostrou, “qualquer um agora via os judeus como seres inumanos”. Quando a Peste Negra chegou, muitos culparam os judeus por supostamente envenenar os poços.
O exemplo mais claro do racismo anti-semita medieval pode ser encontrado na Espanha dos séculos XV e XVI. Após os massacres e expulsões, centenas de milhares de judeus foram convertidos à força ao cristianismo. Esses conversos eram suspeitos de serem cripto-judeus convertidos e insinceros, que minavam secretamente a unidade da cristandade espanhola. A doutrina da limpeza de sangue forneceu uma explicação racial sobre o motivo pelo qual os convertidos foram incapazes de assimilar completamente. Várias instituições promulgaram leis de pureza do sangue que proibiam as pessoas de linhagem judaica de ocupar cargos. Por exemplo, em 1547, o arcebispo de Toledo ordenou que todas as igrejas sob sua responsabilidade impusessem este teste racial a futuros clérigos. Certificados de pureza de sangue tinham que ser produzidos quando procuravam emprego no governo local e ninguém com sangue impuro podia colonizar a América. Essa discriminação não foi apenas um inconveniente social. O olhar atento da Inquisição foi fixado nos descendentes dos conversos. Aqueles que falharam no teste de limpeza de sangue foram super-representados entre as vítimas de Torquemada e seus sucessores.
Uma breve pesquisa de registros históricos pertencentes às primeiras colônias americanas mostra claramente que o desprezo racista perverso fazia parte da vida cotidiana. A supremacia branca fora trazida da Europa para a América: o racismo prevalecia desde o início. Escrevendo em 1578, o explorador e cronista George Best argumenta que a pigmentação escura resulta de “alguma infecção natural dos primeiros habitantes daquela zona rural [África], e assim toda a progênie deles descende, ainda poluída com o mesmo borrão de infecção.” Melhor pensar que a infecção original resultou da condenação de Cam (filho de Noé) por sua incontinência sexual. De acordo com Best, Deus fez os descendentes de Cam “tão negros e nojentos, que poderiam representar um espetáculo de desobediência a todo o mundo”. As explicações para a suposta inferioridade negra eram frequentemente de natureza religiosa: a escravidão era vista como uma maldição divina imposta às pessoas de cor. Encontramos o reverendo Thomas Cooper, em 1615, expressando a opinião de que “esta maldita raça de Cam se espalhará para o sul, na África”. O missionário Morgan Godwin, viajando por Barbados na década de 1670 e tentando converter escravos, relata que ele frequentemente se deparou com a pergunta: “Hã?! Esses cães pretos se tornarão cristãos?” O historiador Alden Vaughan escreve que a teoria de que a inferioridade racial se originou do descontentamento divino “era tão ideologicamente racista quanto qualquer coisa defendida dois séculos depois por Edmund Ruffin ou George Fitzhugh ou três séculos depois pela KKK.”
A escola historiográfica de pensamento sobre as origens do racismo na América colonial sustenta que o racismo era um produto da escravidão. De acordo com esse relato contra-intuitivo, o racismo não causou escravidão; a escravidão criou o racismo. Essa visão adquiriu algum suporte contemporâneo. Ta-Nehisi Coates, por exemplo, endossou-a no Atlântico. Ninguém contesta que a escravidão reforçou o preconceito racial, mas alega que a causalidade era um caminho contra a evidência histórica disponível. Claramente, o racismo era uma pré-condição para o desenvolvimento da escravidão. No entanto, mesmo que essa narrativa epifenomênica estivesse correta, não minaria meu argumento: uma vez que, nesse caso, o racismo era produto de condições econômicas – a escassez de mão-de-obra nas plantações do século XVII, não do pensamento iluminista do século XVIII.
A afirmação de que o Iluminismo inventou o racismo é algumas vezes motivada por nobres aspirações. Se o racismo é algo recente, algo criado pelas condições econômicas há pouco tempo, então poderíamos esperar superá-lo. Ao mudar a economia, poderíamos erradicar a animosidade racial. Mas se o racismo existisse antes da escravidão, então transcendê-lo seria mais difícil, especialmente se o impulso racista estivesse embutido em nossa natureza humana. Infelizmente, tentativas de analisar a fisionomia humana e categorizar supostas raças em castas hierárquicas é uma prática antiga.
O Iluminismo e a escravidão
A escravidão é anterior a Jefferson e Washington. Em 1619, havia mais de 250.000 escravos negros nas colônias espanholas e portuguesas. A escravidão foi, de fato, parte integrante de quase todos os impérios desde os tempos pré-antigos. Os romanos derivavam o entretenimento de seus escravos, alimentando-os com leões e ursos; os astecas sacrificaram os escravos aos milhares em rituais de assassinatos. A escravidão colonial americana foi uma herança da Inglaterra pré-iluminista. A Declaração de Independência original de Thomas Jefferson contém um parágrafo denunciando a escravidão como um produto do despotismo monárquico inglês: “[George III] travou uma guerra cruel contra a própria natureza humana, violando seus direitos mais sagrados de vida e liberdade em pessoas distantes que nunca o ofenderam, cativando e levando-os à escravidão em outro hemisfério ou incorrendo em morte miserável em seu transporte para lá.”
Minha defesa do Iluminismo não é uma defesa dos lumières: muitos eram racistas grosseiros. Alguns eram proprietários entusiastas de escravos, outros eram mais relutantes – como Jefferson, que proibiu a importação adicional de escravos na esperança de parar “o aumento do mal”. Immanuel Kant declarou que, em comparação com os brancos, “os índios amarelos têm uma pequena quantidade de talentos. Os negros são mais baixos e os mais baixos fazem parte dos povos americanos.” Ele uma vez descartou a opinião de uma pessoa de cor porque “esse sujeito era bastante negro… uma prova clara de que o que ele disse era estúpido”. Opiniões como essas merecem nosso opróbrio moral, mesmo que fossem típicas de seu tempo. Mas isso não prova que o Iluminismo fosse racista. Ouse saber – sapere aude – era o lema de Kant para o espírito do Iluminismo. No momento em que desconsiderou o homem negro, Kant falhou em sua injunção central: ele havia abdicado de suas faculdades críticas; ele havia sido insuficientemente iluminado. Assim, o racismo e a escravidão resultaram de uma falta de iluminação, não de uma superabundância dela.
O apelo à iluminação era uma admissão de que a era não era iluminada. Era um ideal para lutar, não uma avaliação da sociedade contemporânea. Os lumières não se viam iluminados. Eles estavam cientes das limitações de seu conhecimento e sabedoria. Esse reconhecimento foi o começo da iluminação: perceber a ignorância e tentar diminuí-la. Por isso, observando que havia senhores de escravos do século XVIII, não entendiam tal objetivo. É insustentável afirmar que o ideal central do Iluminismo – o pensamento livre – promoveu a escravidão. É claro que certos filósofos individuais tentaram reconciliar a liberdade e a escravidão, mas isso era um sinal de que eles não conseguiram se esclarecer, que eles ainda eram reféns de seus preconceitos culturalmente condicionados. Não foi o resultado de terem aprendido a pensar por si mesmos.
Quando Samuel Johnson publicou seu Dicionário da Língua Inglesa em 1755, não havia entrada para a abolição. O abolicionismo foi uma novidade que o Iluminismo introduziu, não uma herança dos séculos anteriores. Os exemplos de Anthony Benezet e os quakeristas ilustram isso. Benezet era um homem de vigor singular e clareza moral. Nascido na França em 1713, ele foi forçado a fugir para a Inglaterra com a tenra idade de dois anos, como resultado de perseguição religiosa. Enquanto ele estava no final da adolescência, sua família se mudou para a Filadélfia. Lá ele começou a ensinar. Ele era humano para com seus alunos e não discriminava nem por motivos de raça nem sexo. À noite, ele ensinou os filhos dos escravos e mais tarde fundou escolas para meninas. Ele escreve: “Tenho coragem de afirmar que a noção de alguns de que os negros são inferiores em suas capacidades é um preconceito vulgar, fundado no princípio da ignorância de seus senhores, que mantiveram seus escravos em tal situação de distância por serem incapazes de formar um julgamento correto deles.” Ao chegar na Filadélfia, Benezet converteu-se ao quakerismo. Vários abolicionistas proeminentes eram quakeristas, mas, o mais importante, antes do Iluminismo, esse não era o caso. Antes do envolvimento de Benezet no movimento antiescravagista em meados do século XVIII, os quakeristas não se opunham à escravidão. Seu fundador, George Fox, encorajou a bondade em relação aos escravos, mas nunca denunciou a instituição da escravidão em si.
Benezet escreveu vários discursos contra a escravidão, culminando na publicação de 1771 de “Alguns Relatos Históricos da Guiné, Sua situação, Produção e Disposição Geral de seus Habitantes: Uma Investigação Sobre a Ascensão e o Progresso do Tráfico de Escravos, sua Natureza e seus Efeitos Lamentáveis”. A. C. Grayling escreve que este folheto “acendeu o papel que era a sensibilidade iluminista”. Realmente. Benezet cita Locke: “O trabalho de seu corpo e o trabalho de suas mãos são seus… Um homem ter poder arbitrário absoluto sobre outro é um poder que a natureza nunca dá.”
Thomas Paine, Benjamin Franklin e Adam Smith eram todos inimigos da escravidão. A França revolucionária aboliu a escravidão em 1794, apenas para que fosse restabelecida pelo regime reacionário napoleônico. Vários estados norte-americanos promulgaram leis antiescravagistas após a independência. E o império britânico, tardiamente, aboliu a escravidão em 1833. Em nenhum momento o caminho para a liberdade estava em linha reta. A promessa de igualdade nunca foi plenamente realizada, e as motivações por trás da emancipação raramente eram totalmente boas. Interesses financeiros e políticos freqüentemente superavam as considerações morais. Mas, sem os ideais do Iluminismo, a abolição nunca teria sido contemplada. A persistência da escravidão ao longo do século XVIII foi simplesmente porque a sociedade humana ainda não estava suficientemente iluminada naquela época.
A revolução haitiana
Como, alguém se pergunta, a emancipação dos haitianos escravizados pode ser assimilada em uma acusação do Iluminismo? Se você acredita que os ideais do Iluminismo justificaram a escravidão, como você considera um homem como Toussaint Louverture? Nos anos que antecederam a abolição, havia pessoas de cor e brancos discutindo conjuntamente – e lutando – pela libertação. Como Jeremy Popkin mostrou, a abolição “não era simplesmente a conseqüência direta do desejo de liberdade dos escravos ou da devoção dos revolucionários franceses aos direitos do homem”. Tanto o conflito entre senhores de escravos e abolicionistas quanto a jornada de 20 de junho de 1793 foram o resultado de eventos complexos. Interesses adquiridos e oportunismo político bruto muitas vezes contavam para mais do que demandas de princípios pela abolição. No entanto, a luta pela liberdade e independência foi inspirada pela impossibilidade de reconciliar a opressão dos escravos com os direitos naturais de todos os homens. O porta-voz revolucionário Honoré Gabriel de Riqueti expressa isso inequivocamente: “O que [a Assembléia] dirá aos negros, o que dirá aos fazendeiros, o que dirá a toda a Europa, é que não há e não pode existir, seja na França ou em qualquer território sujeito às leis francesas, quaisquer homens que não sejam homens livres, que não sejam homens iguais entre si, e que qualquer homem que mantém outro em servidão involuntária age contra a lei.”
Para a eterna vergonha da Assembléia Revolucionária, foi demorado o processo de abolição da escravidão. De fato, até a jornada de 20 de junho, a Assembléia tentou reprimir violentamente os insurgentes negros. Mas ainda assim, como Popkin argumentou, antes de 1794, “a perspectiva de um mundo sem escravidão ou discriminação racial era uma hipótese utópica; depois de 1794, não podia mais ser descartado como algo fora do reino da possibilidade ”.
As motivações dos insurgentes negros eram multifacetadas e às vezes contraditórias. Com o tempo, suas demandas mudaram tanto em escopo quanto em natureza. Mas havia alguns temas constantes. Uma carta de reivindicações dos líderes da insurgência Jean-François Papillon e Georges Biassou menciona explicitamente a Declaração dos Direitos do Homem e argumenta que a doutrina dos direitos naturais é incompatível com a escravidão: “os negros são iguais de acordo com o direito natural e se agrada a natureza de diversificar as cores da espécie humana, não é crime ser negro ou qualquer vantagem ser branco.” A potência dessa declaração era tal que os donos de escravos coloniais proibiram sua circulação em Saint Domingue.
Em seu clássico “Os Jacobinos Negros”, C. L. R. James escreve que Toussaint Louverture “tinha a vantagem da liberdade e da igualdade, os slogans da revolução”, em sua luta pela liberdade. Toussaint fez referência frequente a esses objetivos revolucionários: “É sob a bandeira [da França] que somos verdadeiramente livres e iguais”. É claro que pressões econômicas e expedientes frequentemente anulam os pedidos morais de liberdade e igualdade. Mas o que às vezes é chamado de revolução iluminista nas sensibilidades era um pré-requisito indispensável para a emancipação e para que os rebeldes recebessem reconhecimento legal e legitimidade por um líder do poder europeu.
Ideais Iluministas
O Iluminismo pode ser resumido como a tentativa de pensar por si mesmo. Importa mais como você pensa do que pensa. Essa atitude em relação ao pensamento permite que o pensador, mesmo partindo de uma posição de ignorância insensível, progrida em direção à compreensão empática. Pensar por si mesmo requer a liberdade de se expressar. A ideia central do Iluminismo era a liberdade de expressão. O gracejo de Thomas Jefferson de que ele preferiria ter jornais sem um governo que um governo sem jornais é o epítome dos ideais do Iluminismo. Frederick Douglass colocou desta forma em seu famoso discurso de Boston de 1860:
“Nenhum direito foi considerado mais sagrado pelos Pais Fundadores que o direito de expressão. Este foi, aos olhos deles, como aos olhos de todos os homens pensativos, o grande renovador moral da sociedade e do governo. Daniel Webster chamou-o de direito caseiro, um privilégio do lar. A liberdade não tem sentido quando o direito de expressar seus pensamentos e opiniões deixou de existir. Esse, entre todos os direitos, é o maior medo dos tiranos. É o direito que eles, em primeiro lugar, põem abaixo. Eles conhecem seu poder. Os tronos, os domínios, os principados e os poderes fundados na injustiça e no erro, certamente tremerão, se for permitido aos homens raciocinar em retidão, temperança e julgamento, para chegar à presença deles. A escravidão não pode tolerar a liberdade de expressão. Cinco anos de seu exercício baniriam os leilões e quebrariam todas as cadeias no sul. Eles não terão nada disso lá, pois lá eles têm o poder.”
Douglas estava certo: a escravidão não pode tolerar a liberdade de expressão e nem tolerar o pensamento livre. O Iluminismo era e é inimigo da escravidão.
Gustav Jönsson é estudante de história e filosofia na Universidade de Glasgow.