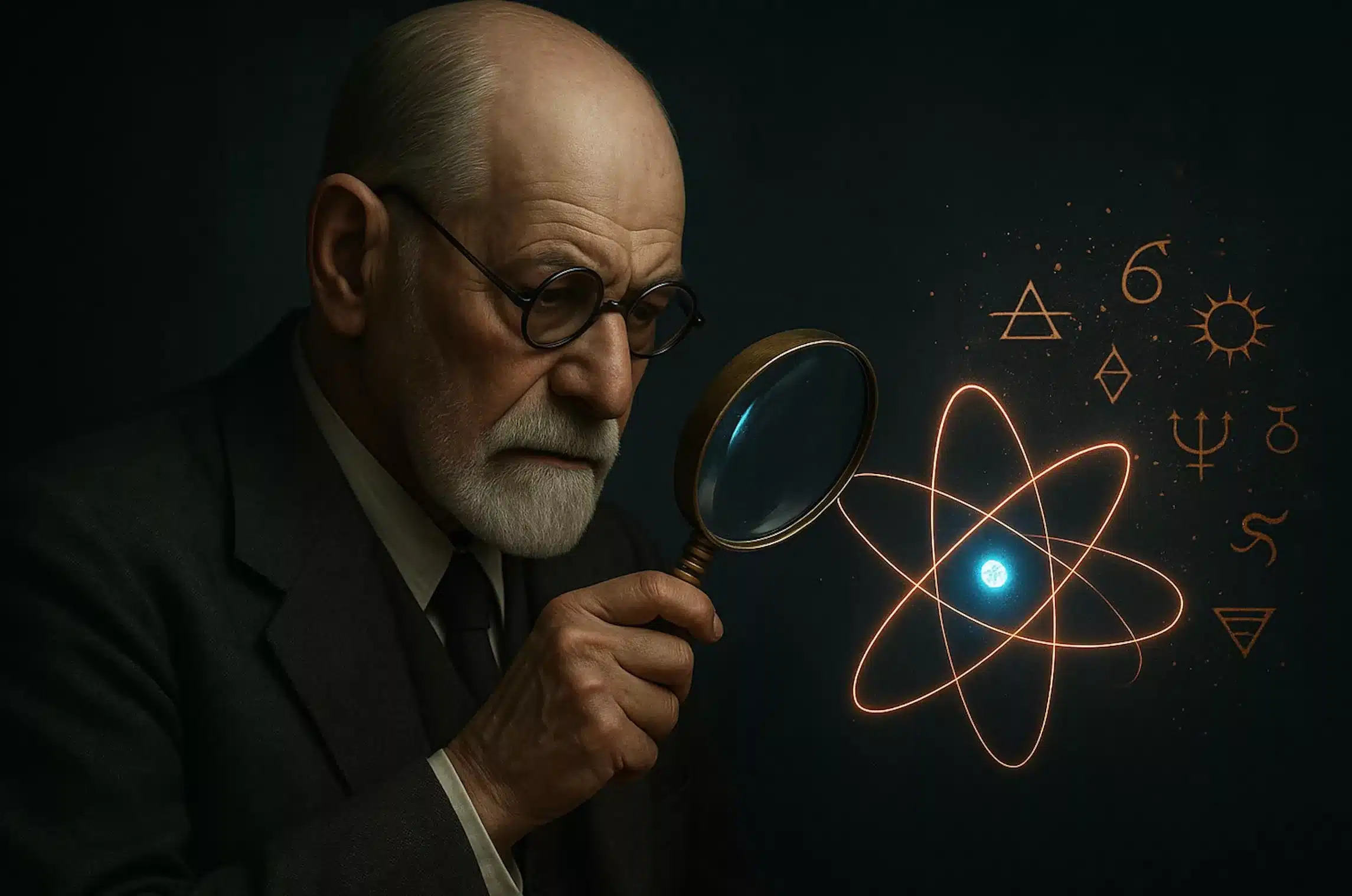Por Ian Salles Botti
Introdução
No texto A ciência como vocação, Weber (2005) discute a ciência em seu estado atual de institucionalização e profissionalização, tendo como fio condutor questões sobre: (i) a relação entre a vocação para a pesquisa e para o magistério, e (ii) o valor do conhecimento, enquanto objetivo a que aspiramos em nossa vida, em complemento ou concorrência a valores morais, estéticos, religiosos, etc. A primeira questão diz respeito principalmente às competências necessárias para ser “sábio” (cientista) (WEBER, 2005, p. 7) e para ser professor universitário: as qualidades pessoais encontradas em um e outro são idênticas, complementares ou mutuamente excludentes? Qual a vocação do cientista? A segunda questão é sobre o valor da ciência, tanto para quem a pratica, quanto para a humanidade em geral: o que ela nos oferece, enquanto indivíduos e enquanto comunidade? Qual a vocação da ciência?
A vocação do cientista
Weber parece traçar uma divisão mais ou menos rígida entre sabedoria e professorado, afirmando que frequentemente não coincidem, e que a vocação para a ciência não implica em tornar-se, só por isso, um bom professor. Tendo em vista que a ciência é feita geralmente em universidades (por professores), ambos os ofícios se confundem na prática; o caminho para a pesquisa, no qual o sábio deve se inserir, coincide com o caminho do educador. Quais são, pois, as competências que caracterizam essas diferentes vocações? Qual tem primazia prática na carreira acadêmica?
O aspirante a sábio deve percorrer o mesmo rumo que os aspirantes a professores, e não parece que se pode realizar plenamente uma ou outra coisa isoladamente. Entretanto, se são vocações compatíveis e até complementares, isso nem sempre, ou quase nunca, se reflete na realidade, pois os critérios a partir dos quais se julga a aptidão para a pesquisa e para o ensino diferem radicalmente. O professor pode medir seu sucesso com base no público que atrai, na atenção prestada pelos alunos e nos resultados obtidos. Mas isso não parece ter um caráter epistêmico, quer dizer, não diz respeito a capacidade de hipotetizar, criar, descobrir, analisar, experimentar ou quaisquer outras atividades cognitivas, sejam individuais ou coletivas (WEBER, 2005, p. 6). Antes, os fatores que determinam a popularidade de um professor são, por exemplo, seu temperamento, seu timbre de voz, e, principalmente, habilidades comunicativas extrínsecas à busca pelo conhecimento:
Tudo fica subordinado à sugestão da infinita bênção e ao valor do grande número de ouvintes. Quando de um docente se diz que é um mau professor, isso é para ele, na maioria dos casos, uma sentença de morte acadêmica, ainda que seja o maior sábio do mundo. Mas a questão de saber se alguém é bom ou mau professor recebe uma resposta através da assiduidade com que alguém se vê honrado pelos senhores estudantes. Ora, é um facto que a circunstância de os estudantes acorrerem em chusma a um professor é determinada, em ampla medida, por factores puramente extrínsecos: o temperamento, e até o timbre da voz – num grau que se não consideraria possível. (WEBER, 2005, p. 6-7)
Por outro lado, para o sábio não é necessário cativar o público, pois o que lhe torna apto para a ciência é, para Weber (2005, p. 7), uma questão de “aristocracia espiritual”, i.e., a vocação para a ciência envolve capacidades e interesses epistêmicos que ou se possui ou não; treinamento e habituação não parecem bastar para tornar alguém, digamos, criativo, curioso, atento a detalhes, rigoroso consigo mesmo, e honesto em sua pesquisa. O conhecimento e a habilidade didática do professor, por melhores que sejam, não são suficiente para que ele seja também um bom pesquisador, capaz de contribuir em sua área:
Mas a educação científica, como por tradição a devemos cultivar nas universidades alemãs, é uma questão de aristocracia espiritual; e não há que tapar os olhos a tal respeito. Por outro lado, também é verdade o seguinte: a exposição dos problemas científicos de modo que eles sejam compreensíveis para uma cabeça não educada, mas receptiva, e que chegue – para nós é a única coisa decisiva – a ter sobre eles ideias autónomas, é talvez a mais difícil de todas as tarefas pedagógicas. Não é, todavia, o número de ouvintes que decide do seu êxito. […] esta arte é um dom pessoal, que de nenhum modo coincide com as qualidades científicas de um sábio. […] as universidades hão-de responder à dupla exigência da investigação e do ensino. Se as capacidades para estas duas funções confluem num só e mesmo indivíduo é puro acaso. (WEBER, 2005, p. 7)
Aqui, Weber explicita o ponto ao afirmar que é por acaso que um mesmo indivíduo possui vocação tanto para a investigação quanto para o ensino. Além disso, ele parece distinguir entre a popularidade do professor e o verdadeiro sucesso pedagógico de tornar um conteúdo teórico palatável para leigos. Este é, para Weber, um difícil (se não o mais difícil) desafio pedagógico, que não pode ser avaliado pela mera popularidade do docente, ao contrário do que ele havia afirmado antes (2005, p. 6). Ele não indica, contudo, outros meio de avaliar o objetivo pedagógico.
Há portanto, um dilema na formação acadêmica, pois o magistério e a pesquisa requerem diferentes competências. O primeiro é privilegiado no meio institucional devido ao fato de que, tendo a ciência moderna se tornado irreversivelmente especializada em subáreas, o pesquisador não pode contribuir senão para problemas específicos que requerem anos de estudo e não garantem o seu sucesso. No meio tempo ele deve também se mostrar competente como professor (WEBER, 2005, p. 8).
O educador, por outro lado, não tem necessariamente que se especializar e contribuir em sua área, a ele basta ter o conhecimento geral que lhe permite cumprir seus objetivos pedagógicos. Por isso, bons professores acabam por ter mais facilidade e reconhecimento no meio acadêmico, o que tanto previne que bons pesquisadores ocupem o espaço quanto frustra aqueles que são constantemente preteridos pelos alunos e pelos prêmios institucionais, e se veem ficando aquém de seus talentos e objetivos. Por isso, quem pretende dedicar-se a ciência,
deve, em consciência, perguntar-se: “Pensas que conseguirás suportar, sem amargura e sem prejuízo, que, ano após ano, sejas ultrapassado por mediocridade após mediocridade? Em seguida, a resposta que se recebe é, evidentemente, esta”: Claro, vivo só para a minha “vocação” – da minha parte, pelo menos, conheci muito poucos que tenham suportado isto sem dano interior. (WEBER, 2005, p. 7).
Vimos até então que há diferenças notáveis entre as funções de educador e pesquisador, apesar de que ambas devem ser realizadas pelos mesmos indivíduos. Mas o que distingue a nível pessoal o cientista do professor? Weber pensa que sem paixão não se tem vocação para a ciência, quem a pratica sem paixão não deveria fazê-lo. As razões para tal são que “nada tem valor para o homem enquanto homem, se o não puder fazer com paixão” (WEBER, 2005, p.8, grifo do autor), e, principalmente, por que a paixão é uma condição necessária, mas não suficiente, para a ‘inspiração’ a que se deve o progresso da ciência. Weber, que obviamente tem vivência como cientista, se opõe ao estereótipo da ciência ‘fria e calculista’:
Nos círculos juvenis está, hoje, muito difundida a ideia de que a ciência se transformou num exemplo de cálculo que se fabrica nos laboratórios ou nos arquivos estatísticos com o frio entendimento, e não com toda a “alma”, exactamente como “numa fábrica”. Importa aqui, antes de mais, observar o seguinte: na maioria dos casos, não existe clareza alguma nem sobre o que se faz numa fábrica nem sobre o que se passa num laboratório. Aqui e além, deve ao homem sobrevir alguma coisa – e decerto o que é adequado – para produzir algo de valioso. Mas esta inspiração não pode ser forçada. Nada tem a ver com o frio cálculo. Também este é, sem dúvida, uma condição prévia. (WEBER, 2005, p. 8-9)
Além da paixão e das ferramentas formais e experimentais de que o cientista dispõe, outra condição para a inspiração é o trabalho duro. Essas condições não são suficientes, porque não se pode forçar a inspiração ou torná-la mecânica. Um diletante não trabalha duro como especialista, e sua paixão não é direcionada como a deste, mas a inspiração pode lhe sobrevir de qualquer jeito, e até dar frutos melhores que os de especialistas, ainda que o diletante nem sempre tenha condição de tirar máximo proveito de sua inspiração (Idem, p. 9). Weber faz questão de destacar que a inspiração não é necessária somente na ciência, mas também na vida prática e profissional (empresarial, por exemplo), assim como na arte, mesmo que em diferentes áreas a inspiração tome diferentes formas (Idem, p. 10): independentemente do domínio a que se aplica, a inspiração é, enquanto processo psicológico, a mesma “embriaguez”. Não há nenhuma pretensão de dar ao cientista ou à ciência status privilegiado ou um valor acima dos outros ofícios, instituições sociais e modos de vida.
O valor da ciência
Mesmo compartilhando a necessidade de inspiração, a arte e ciência diferem porque os produtos da primeira são obras acabadas, enquanto que os da segunda são fadados a serem criticados, corrigidos e superados pela pesquisa vindoura (WEBER, 2005, p.12). Isso se deve ao progresso, que é característico da ciência, mas não da arte: uma obra de arte é apreciada ou não pelas gerações futuras, mas não é corrigida e aprimorada sucessivamente como ocorre com teorias científicas. Com isso, passamos da discussão sobre a vocação do homem para a ciência para a discussão sobre a vocação da ciência para a humanidade, isto é, qual o valor da ciência? Em especial, porque devemos cultivá-la e nos dedicarmos a ela, se cada contribuição feita inevitavelmente se tornará ultrapassada? A que o cientista aspira, visto que sua obra não será imortalizada como a do artista?
Ao contrário do artista, o cientista não pode esperar que seu trabalho permaneça atual e relevante:
toda a “realização” científica significa novas “questões” e quer ser ultrapassada, envelhecer. […] ser cientificamente ultrapassado não é só o destino de todos nós, mas também toda a nossa finalidade. Sem dúvida, há trabalhos científicos que podem conservar a sua importância de modo duradouro como “instrumentos de fruição”, por causa da sua qualidade artística ou como meios de formação para o trabalho. Seja como for, importa repetir que ser cientificamente ultrapassado não é só o destino de todos nós, mas também toda a nossa finalidade. Não podemos trabalhar sem esperar que outros hão-de ir mais longe do que nós. Este progresso, em princípio, não tem fim (WEBER, 2005, p. 12)
É óbvio que a ciência é útil. Para o homem prático a ciência se justifica pelos seus produtos, mas não é o homem prático que faz ciência, e essa justificação pragmática não diz respeito ao valor da ciência em si e nem ao valor que ela tem para o cientista. Ao contrário dos gregos, medievais e renascentistas, hoje não cremos que a ciência pode nos dar diretrizes para a vida, ou que ela seja o caminho para Deus (Idem, p. 15-17). Na época de Weber, a dicotomia fato-valor, segundo a qual não se pode derivar valores e normas (morais ou outras) de fatos, era amplamente aceita. A axiologia (teoria do valor) foi considerada por filósofos de inclinação científica como desconectada do domínio dos fatos, e mesmo como sem significado (cf. CARNAP, 2009). Por conseguinte, havia uma desconfiança generalizada no mundo acadêmico sobre a possibilidade de justificar racional ou empiricamente qualquer valor, mesmo os associados à própria ciência.
A ciência é um meio para atingir nossos objetivos práticos – ela nos diz o que fazer e como fazer, se tivermos determinado objetivo, mas ela não nos diz que objetivos devemos ter. A ciência serve igualmente bem a quem quer usar energia nuclear como uma alternativa sustentável ao combustível fóssil, quanto a quem quer usar a mesma base teórica para criar bombas. Disso se conclui que a ciência não pode justificar suas aplicações – ela não nos diz se é bom ou ruim criar bombas, ela nos diz apenas como criá-las, se quisermos fazê-lo.
O mesmo vale para a técnica e a tecnologia. A medicina, por exemplo, pressupõe que a vida tem valor e fornece meios para preservá-la, mas pressupor não é o mesmo que justificar, de modo que em casos de doenças incuráveis não é claro se devemos ou não estender a vida – e o sofrimento – de alguém. Há casos bem conhecidos de pessoas que lutaram pelo direito de morrer, resistindo ao senso comum de que toda vida deve ser preservada em todo caso, mesmo contra a vontade do indivíduo. Como diz Weber, a ciência e a técnica pressupõe um objetivo ou interesse, seja entender a natureza ou fazer prédios altos e carros rápidos, mas “pressupor a existência deste interesse não chega, porém, para o tornar evidente por si mesmo. Na realidade, não o é de modo algum.” (WEBER, 2005, p. 20).
É importante notar que o “processo de intelectualização” da humanidade do qual a ciência faz parte não implica que o homem moderno conheça a si mesmo e ao mundo melhor do que em outras culturas. Pelo contrário, relativamente poucas pessoas sabem como funcionam carros, micro-ondas, computadores, vacinas, etc; menos ainda como lidar com a natureza sem o auxílio destes artefatos. Desse ponto de vista, parece que hoje temos, enquanto indivíduos, menos conhecimento e habilidade do que um trabalhador do campo ou um membro de qualquer sociedade pré-moderna. O conhecimento e a habilidade necessários para criar e entender coisas como aviões e celulares é possuído por poucos especialistas, mas, em princípio, qualquer pessoa poderia ter acesso a essa informação e aprendê-la. Não há mistérios e milagres no dia a dia do homem moderno; aquilo que ele não entende, ele usa apesar disso, e se conforta em saber que poderia entender, caso se desse ao trabalho:
Significa, porventura, que hoje cada um dos que estão nesta sala tem um conhecimento das suas próprias condições de vida mais amplo do que um índio ou um hotentote? Dificilmente. Excepto se for um físico, nenhum de nós, ao viajar de comboio, fará ideia alguma de como ele se move. Aliás, também não precisa de saber. Basta-lhe “contar” com o comportamento do comboio e orientar assim a sua própria conduta; mas não sabe como fazer comboios que funcionem. O selvagem sabe incomparavelmente mais acerca dos seus utensílios. (WEBER, 2005, p. 12)
Weber chama esse processo de intelectualização de “desencantamento do mundo”. Nele, a ciência tem um papel importante, mas, como vimos, ela própria não é capaz de justificar seu valor (o porquê dela ser importante). Também não é claro qual a ‘recompensa’ pessoal do cientista, cujo trabalho é sempre condicionado pela especialização e pelo progresso da ciência. Devido a essa separação entre conhecimento dos fatos, de um lado, e valores e normas para a vida prática, de outro, nem o cientista nem o professor podem transgredir essa barreira e impor seus valores sobre os fatos que estuda e ensina. Isso quer dizer que o professor deve limitar-se aos fatos, e não fazer juízos de valor. Contudo, isso não significa uma neutralidade omissa e complacente em relação aos conflitos valorativos presentes dentro e fora do ambiente acadêmico, sejam éticos, políticos ou religiosos.
Pelo contrário, Weber considera como tarefa primária do professor ensinar seus alunos a reconhecer os “fatos incômodos” para suas opiniões partidárias (WEBER, 2005, p. 23), isto é, incômodos para qualquer opinião partidária. Por esse ângulo, o tão criticado ideal de neutralidade e objetividade da ciência não parece tão absurdo, pois os fatos por si só – e seu estudo rigoroso – quase que inevitavelmente contrariam em um ponto ou outro as visões de mundo e ideologias preestabelecidas. Levar a sério a ciência implicaria em se esforçar para mitigar nossos preconceitos, frente aos fatos que se impõe, independentemente de gostarmos ou não deles. Isso em nada depende da adoção, por parte do cientista ou do professor, de um conjunto de valores e compromissos práticos que frequentemente são considerados necessários para se ‘pensar criticamente’ – os valores do cientista são, ou deveriam ser, epistêmicos, e não implicam em valores políticos ou religiosos específicos. A contribuição intelectual do professor é quase uma contribuição moral, se ensinar os alunos não somente a lidar com dado domínio de fatos, mas também a ajustar sua visão de mundo a eles (e não o contrário).
Conclusão
Afinal, qual o valor da ciência? Weber (WEBER, 2005, p. 27) lista algumas de suas principais contribuições para a vida humana: (i) o conhecimento científico informa a técnica, que “serve para dominar a vida, as coisas externas e a acção dos homens”. Este é o já mencionado benefício prático da ciência, que diz respeito às pessoas em geral, não importa o quão distantes estejam da atividade e do conhecimento científico. (ii) a atividade científica nos dá “métodos de pensamento, instrumentos e formação”. Esse parece ser um benefício desfrutado somente pelos próprios investigadores, porque usufruir dos produtos da ciência não requer que se pense e aja como um cientista – o que é demonstrado claramente pelas discussões políticas em redes sociais e pelo ressurgimento de teorias conspiratórias motivadas por religiões. (iii) a ciência nos dá claridade. Em maior ou menor grau, todos nós somos beneficiados por essa claridade, que perpassa o “desencantamento do mundo” promovido pela ciência – aqui, o (mal) uso que fazemos das redes sociais e fenômenos sociais como o terraplanismo nos dão razão para sermos céticos quanto à abrangência dessa claridade.
Contudo, vimos que a ciência diz respeito a meios, não a fins. Não cabe à ciência, ao cientista ou ao professor dizer o que devemos fazer, o que devemos valorizar, mas somente nos dar meios alcançar o que quer que seja que nós buscamos. Ao valorar positivamente um objetivo e conhecer os meios para alcançá-lo, estamos aceitando determinado curso de ação, levando às últimas consequências os valores e objetivos que requerem tal curso de ação e, com isso, servindo, figurativamente, a um deus e não a outro.
Se vos decidirdes por esta posição, servis, em linguagem figurada, este deus e ofendeis o outro. Se permanecerdes fiéis a vós mesmos, chegareis internamente a estas ou àquelas consequências últimas e significativas. […] Se conhecermos a nossa matéria (o que, mais uma vez, aqui temos de supor), poderemos assim obrigar, ou pelo menos ajudar, o indivíduo a que, por si mesmo, se dê conta do sentido último das suas acções. Parece-me que isto já não é assim tão pouco, inclusive para a vida puramente pessoal. Sinto-me tentado, também aqui, a dizer que, quando um professor consegue isso, está ao serviço de poderes “morais”: a obrigação de criar claridade e sentimento da responsabilidade; e creio que será tanto mais capaz de o fazer quanto mais conscienciosamente evitar, do seu lado, o desejo de impor ou de sugerir aos seus ouvintes uma tomada de posição. (WEBER, 2005, p. 28, grifo do autor)
A ciência não recomenda uma visão de mundo, mas deriva de qualquer uma suas consequências e nos faz encarar, pessoalmente e em comunidade, a realidade a que teremos de nos submeter a fim de alcançar nossos objetivos. Se realmente valorizamos um fim, valorizaremos também os meios necessários; se os meios nos parecem impróprios, devemos também abandonar o fim. De todo modo, a principal contribuição axiológica da ciência reside em possibilitar o desenvolvimento de um senso de responsabilidade tanto intelectual quanto moral; ainda que “possibilitar” esteja longe de “garantir”, como bem nos lembra a história de mal uso e abuso da ciência e da tecnologia por pessoas que geralmente não nutrem nenhuma paixão por elas – ou pela humanidade a que elas poderiam melhor servir.
Referências
- CARNAP, Rudolf. A Superação da Metafísica pela Análise Lógica da Linguagem. Tradução de William Steinle. Cognitio, São Paulo, v. 10, n. 2, p. 293-309, 2009.
- WEBER, Max. A Ciência como Vocação. Tradução de Artur Morão. In: WEBER, Max. Três tipos de poder e outros escritos. Tribuna da História: Lisboa, 2005.