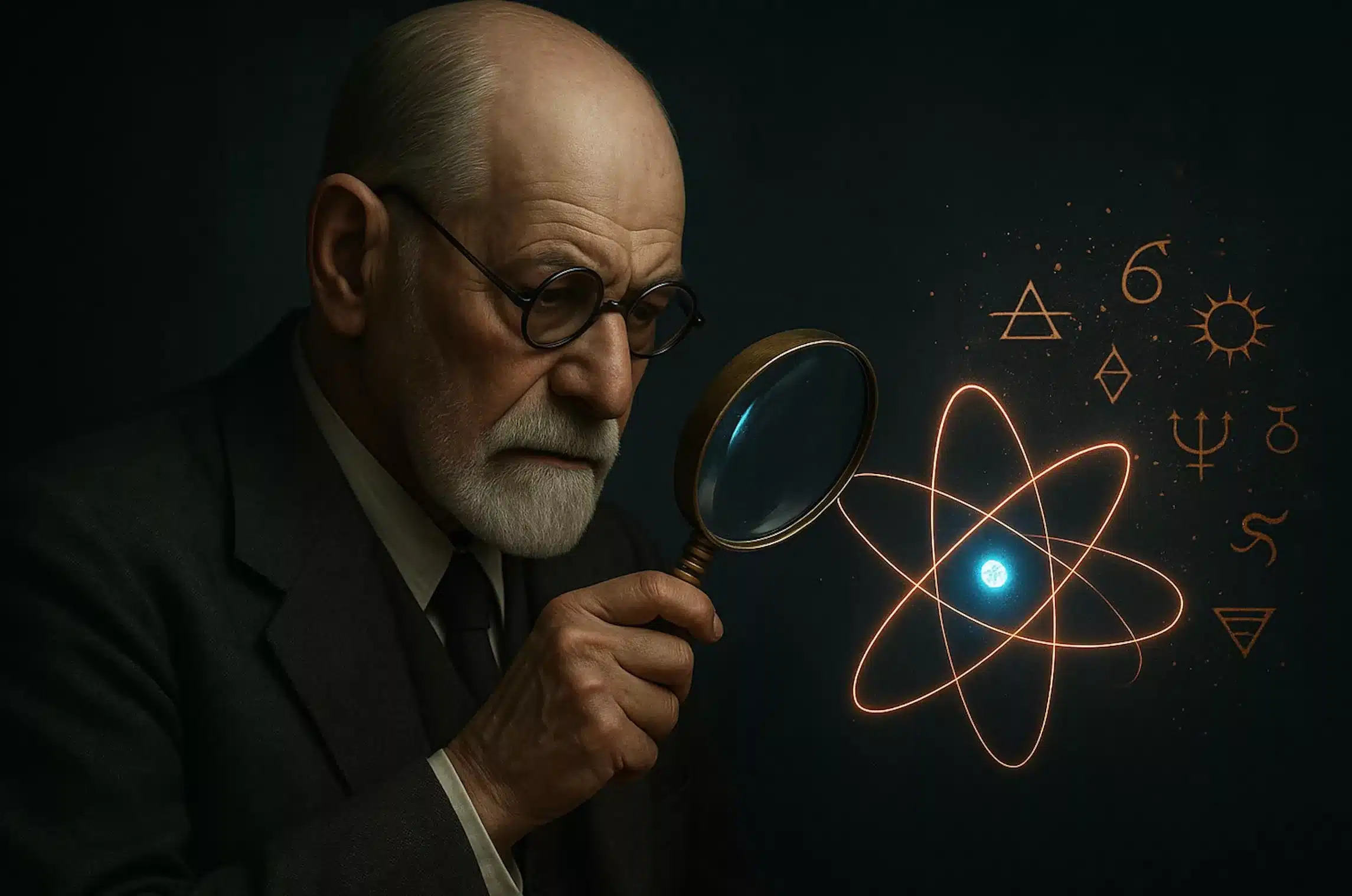Por Ed Yong
Publicado no The Atlantic
É uma boa época para estar interessado no cérebro. Neurocientistas podem agora ligar ou desligar neurônios com apenas um flash de luz, os permitindo manipular o comportamento de animais com precisão excepcional. Estes cientistas podem tornar cérebros transparentes e cultivá-los com moléculas brilhantes para tornar suas estruturas sublimes. Eles podem registrar a atividade de um número gigante de neurônios de uma só vez. E essas são só as ferramentas que existem atualmente. Em 2013, Barack Obama lançou o programa BRAIN (Brain Research through Advancing Innovative Neurotechnologies, ou Pesquisa Cerebral através de Neurotecnologia Avançada e Inovada) — um plano de $115 milhões de dólares para desenvolver tecnologias ainda melhores no papel de entender a enigmática estrutura cinza que descansa dentro de nossos crânios.
John Krakaeur, neurocientista no hospital Johns Hopkins, já foi convidado para reuniões da iniciativa BRAIN antes e descreve tais encontros como a “Malévola sendo convidada para o aniversário da Bela Adormecida.” Isso porque ele e quatro amigos que compartilham da mesma visão estão ficando cada vez mais desencantados com a obsessão de seus colegas por seus brinquedos. Em um novo artigo que é em parte dissertação filosófica, parte toque de advertência, eles argumentam que esse fetiche por tecnologia está levando a um desvio de propósito. “As pessoas pensam que tecnologia + muitos dados + aprendizado das máquinas (machine learning) = ciência”, afirma Krakauer. “Mas não é assim.”
Ele e seus companheiros rabugentos argumentam que os cérebros são especiais por causa do comportamento que eles criam — tudo desde o ataque de um predador até o choro de um bebê. Mas o estudo de tal comportamento está sendo menosprezado, ou estudado “quase como ideia reserva.” Em vez disso, neurocientistas estão focando suas novas ferramentas no estudo de neurônios, em rede ou individuais. Conforme Krakauer, a hipótese da qual ninguém fala é que se coletarmos dados suficientes sobre as partes pequenas, o funcionamento do todo ficará claro. Se nós entendermos por completo as moléculas que rodeiam a sinapse, os pulsos elétricos que percorrem o neurônio ou a teia de conexões formadas pelos inúmeros neurônios, nós eventualmente iremos resolver os mistérios do aprendizado, da memória, da emoção e muito mais. “A falácia é que mais do mesmo tipo de trabalho irá se transformar, no futuro postergado, no conhecimento do motivo do choro de uma mãe ou porque se sentir dessa maneira” diz Krakauer. E, como ele e seus colegas afirmam, não vai.
Isso porque o comportamento é uma propriedade emergente — ele surge do trabalho conjunto de grandes grupos de neurônios, e não é aparente no estudo de apenas um neurônio. Você pode traçar um paralelo com o andar em bando de pássaros. Biólogos se perguntam há muito tempo como eles conseguem flutuar nos céus em perfeita coordenação, em uníssono como se fossem apenas um ser. Nos anos 80, cientistas da computação mostraram que isso acontece quando cada pássaro obedece a algumas regras simples, que determinam a distância e o alinhamento em relação aos mesmos. Partindo dessas regras individuais, a complexidade coletiva emerge.
Mas você nunca seria capaz de prever o comportamento do último partindo do primeiro. Não importa o quão minuciosamente você entenda a física das plumas, você jamais poderia antecipar a dança dos pássaros sem primeiramente ver acontecendo. É assim com o cérebro também. Como escreveu o neurocientista britânico David Marr em 1982: “tentar entender a percepção através do estudo dos neurônios é como tentar entender o voo de um pássaro estudando apenas penas. Simplesmente não pode ser feito.”
É como se cada trabalho submetido precisasse ser um decatlo metodológico para poder ser considerado importante.
Um estudo utilizado como referência, publicado em 2016, ilustrou graciosamente sua tese usando, dentre um universo de coisas, videogames retrô. Eric Jonas e Konrad Kording examinaram o microchip MOS 6502, que rodou clássicos como Donkey Kong e Space Invaders, porém da maneira dos neurocientistas. Usando as abordagens que são comuns na ciência do cérebro, eles indagaram se conseguiriam redescobrir o que já sabiam sobre o chip — como por exemplo como seus transistores e circuitos lógicos processavam informação, e como rodavam jogos simples. E eles falharam completamente.
“O que conseguimos extrair foi incrivelmente superficial”, contou-me Jonas ano passado. Contou-me também que “no mundo real, isso seria um conjunto de dados de milhões de dólares.” Se o tipo de neurociência que veio a dominar o campo não puder explicar o funcionamento de um simples microchip datado, como poderá vir a explicar o cérebro — o objeto mais complexo do universo?
Essa crítica dura perde o alvo, diz Rafael Yuste da Universidade de Coumbia, o qual trabalha desenvolvendo novos artefatos para estudar o cérebro. Nós ainda não entendemos como o cérebro funciona, ele afirma, “porque ainda somos ignorantes acerca do caminho à percorrer entre neurônios individuais e comportamento, este que é a função de grupos de neurônios — ou seja, de circuitos neurais.” E isso por causa das algemas metodológicas que têm impedido investigadores de examinar a atividade do sistema nervoso por completo. Isso é provavelmente em vão, como assistir televisão examinando cada único pixel de uma só vez. Desenvolvendo melhores ferramentas que podem assistir o circuito neural inteiro em ação, programas como a iniciativa BRAIN estão trabalhando contra o cerceamento e nós levarão mais para perto de capturar as propriedades emergentes do cérebro.
Porém Krakauer diz que essa mentalidade simplesmente troca “neurônio” por “circuito neural” e comete o mesmo erro conceitual. “Seria interessante ver as propriedades emergentes dentro do nível de circuito, mas é uma falácia pensar que você chegaria mais perto do organismo todo e automaticamente entendê-lo,” o mesmo afirma.
Em analogia, ele e seus colegas não estão dispensando novas tecnologias. Eles não são neuro-luditas. “Essas novas ferramentas são incríveis: estou usando-as agora mesmo em meu laboratório,” diz Asif Ghazanfar da Universidade de Princeton, que estuda a comunicação entre pares de macacos sagui. “Mas eu passei sete anos tentando entender seu comportamento vocal, primeiro. Agora, eu tenho ideias específicas sobre como a rede neural por trás desse comportamento pode parecer, e eu irei designar experimentos cuidadosos para testá-las. Muito frequentemente parece que as pessoas fazem o contrário: eles olham para toda a tecnologia maneira e perguntam ‘Quais perguntas posso fazer com isso?’ E então você obtém resultados que podem ser interpretados de jeitos vagos.”
Ratos são tratados como se fossem mamíferos genéricos que possuem versões menores de cérebros humanos — e isso é absurdo.
Esse ponto é crucial. Diferentemente de outros que estão impondo cargas de redução à neurociência, Ghazanfar e seus camaradas não são dualistas — eles não estão dizendo que existe uma mente que pode ser separada do cérebro e que resiste à explicação. Eles defendem que a explicação existe. É só o jeito que estamos procurando que é errado. E pior, nós estamos chegando nas explanações erradas.
Considere neurônios espelhados. Essas células, primeiramente descobertas em macacos, se ativam da mesma maneira quando um animal efetua uma ação e quando ele vê outro indivíduo fazer o mesmo. Para alguns cientistas, esses padrões de atividades implicam no entendimento: já que os macacos sabem das próprias intenções quando movem o próprio corpo, baseados no disparo dos neurônios, eles são capazes de inferir intenções similares em qualquer um que estejam observando. E de tal modo, esses neurônios têm agitado as bases da pesquisa sobre empatia, linguagem, autismo, jazz e até a civilização humana — não por nada eles têm sido chamados de “o conceito mais popular da neurociência.”
O problema está aqui: em experimentos com macacos, cientistas quase nunca checam o comportamento do animal para confirmar que eles genuinamente entendem de verdade o que veem nos seus semelhantes. Como Krakauer e seus colegas escrevem, “Uma interpretação está se passando como resultado; isto é, que os neurônios espelhados entendem o outro ser.” Como outros cientistas já descreveram, há pouca evidência forte para isso — ou até para a existência de neurônios espelhados em humanos. Isso é o tipo de armadilha lógica que você cai quando ignora o comportamento.
Contrastando, Krakauer aponta como exemplo seu próprio trabalho acerca do Parkinson. Pessoas com essa enfermidade tendem a se mover mais lentamente — um sintoma que é ligado à falta de dopamina. Aumentando os níveis desse químico, você consegue acelerar novamente os movimentos de um indivíduo. Isso poderia levar a novos tratamentos, o que não é uma pequena vitória. Mas também essa conquista não diz a um cientista porque ou como a queda da dopamina leva à esse comportamento.
Krakauer encontrou uma pista em 2007 pedindo para que pacientes com Parkinson alcançassem objetos em velocidades variadas. Esse experimento revelou que eles são tão capazes de se mover rapidamente quanto pessoas saudáveis; eles só estão inconscientemente relutantes disso. Os cientistas sugeriram então que os neurônios produtores de dopamina que conectam duas partes do nosso cérebro — a substância negra e o estriado ventral —determinam nossa motivação para nos mover. Exclua essa dopamina e nós optamos por movimentos menos energéticos para dada tarefa. Por consequência, a lentidão. Experimentos posteriores em ratos, nos quais técnicas modernas foram usadas para aumentar ou reduzir os níveis de dopamina, confirmaram essa ideia.
Você tem que começar pelo comportamento. Não é possível voar num avião enquanto o constrói.
Existem muitos outros exemplos onde o comportamento liderou a pesquisa. Estudando como as corujas escutam a presa em fuga, neurocientistas descobriram como seus cérebros — e depois, como os de todos os mamíferos — localizam o som. Estudando como os saguis chamam uns aos outros, Ghazanfar aprendeu mais sobre as regras que governam o revezamento na conversação humana. De modo crítico, esses casos começaram estudando comportamentos que animais têm naturalmente, não os que eles foram treinados pra performar. Do mesmo modo, morcegos, lesmas do mar e peixes que geram carga elétrica nos contaram muito sobre como os cérebros funcionam, porque cada um tem habilidades especiais únicas. “Se você estudar uma espécie que desempenha um ou dois comportamentos muito bem, você pode identificar os circuitos subjacentes mais facilmente,” diz Ghazanfar. “Ao invés disso, ratos são tratados como mamíferos genéricos que guardam versões menores do cérebro humano — e isso é absurdo.”
“Eu estou animado para ver esse trabalho enfatizar a importância do estudo cuidadoso do comportamento,” afirma Anne Churchland, que estuda a tomada de decisões no laboratório Cold Spring Harbor. “Eu percebi que em neurociência, comportamento está frequentemente em segundo plano, estudado com entendimento insuficiente da estratégia animal.” Mas ela adiciona que tais estudos são complicados. É difícil conseguir que animais se comportem naturalmente em laboratório, porque você poderá precisar recriar aspectos detalhados de seus mundos que não são óbvios para nós.
Ghazanfar concorda. “Se sua meta é entender o cérebro, você tem que entender comportamento, isso não é trivial. Eu acho que muitos cientistas pensam que é,” ele diz. “Talvez um passo à frente seja desenvolver ferramentas para ajudar a solucionar a complexidade do comportamento” sugere Ed Boyden do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o qual é pioneiro na técnica inovadora da optogenética. “Investigação comportamental tem uma forte tradição na neurociência e espero que cresça ainda mais forte.”
Para este momento, o problema é que está ficando mais difícil publicar tais estudos em revistas referência de neurociência. Estudos comportamentais são rejeitados por “não terem neuro suficiente”, afirma Ghazanfar, o qual acrescenta “é como se cada trabalho precisasse ser um decatlo metodológico para poder ser considerado importante.”
Marina Picciotto da Universidade de Yale, que é editora chefe no Jornal de Neurociência, diz que fica brava com o modo que estudos são construídos. Se eles apenas descrevem comportamento, eles provavelmente são mais apropriados para um jornal que é focado em psicologia. Mas se experimentos comportamentais explicitamente levam à hipóteses sobre circuitos cerebrais, ou algo do gênero, eles são mais importantes para o campo da neurociência. Porém, “a linha entre comportamento puro e neurociência é tênue e fluída,” ela admite, além de ser também uma apreciadora dos novos trabalhos e aberta à discussões acerca dos problemas que eles trazem.
Para Krakauer, o atual andamento rebaixa o trabalho sobre comportamento, diminuindo seu valor, “a menos que nos falem onde colar os eletrodos.” Mas é importante em seu cerne. “Meu medo é que o público diga: Sim, é claro, nós devemos continuar fazendo tudo que estivemos fazendo, mas também fazer estudos comportamentais melhores. Eu estou tentando dizer que você tem que começar pelo comportamento. Você não pode voar em um avião enquanto o constrói.”