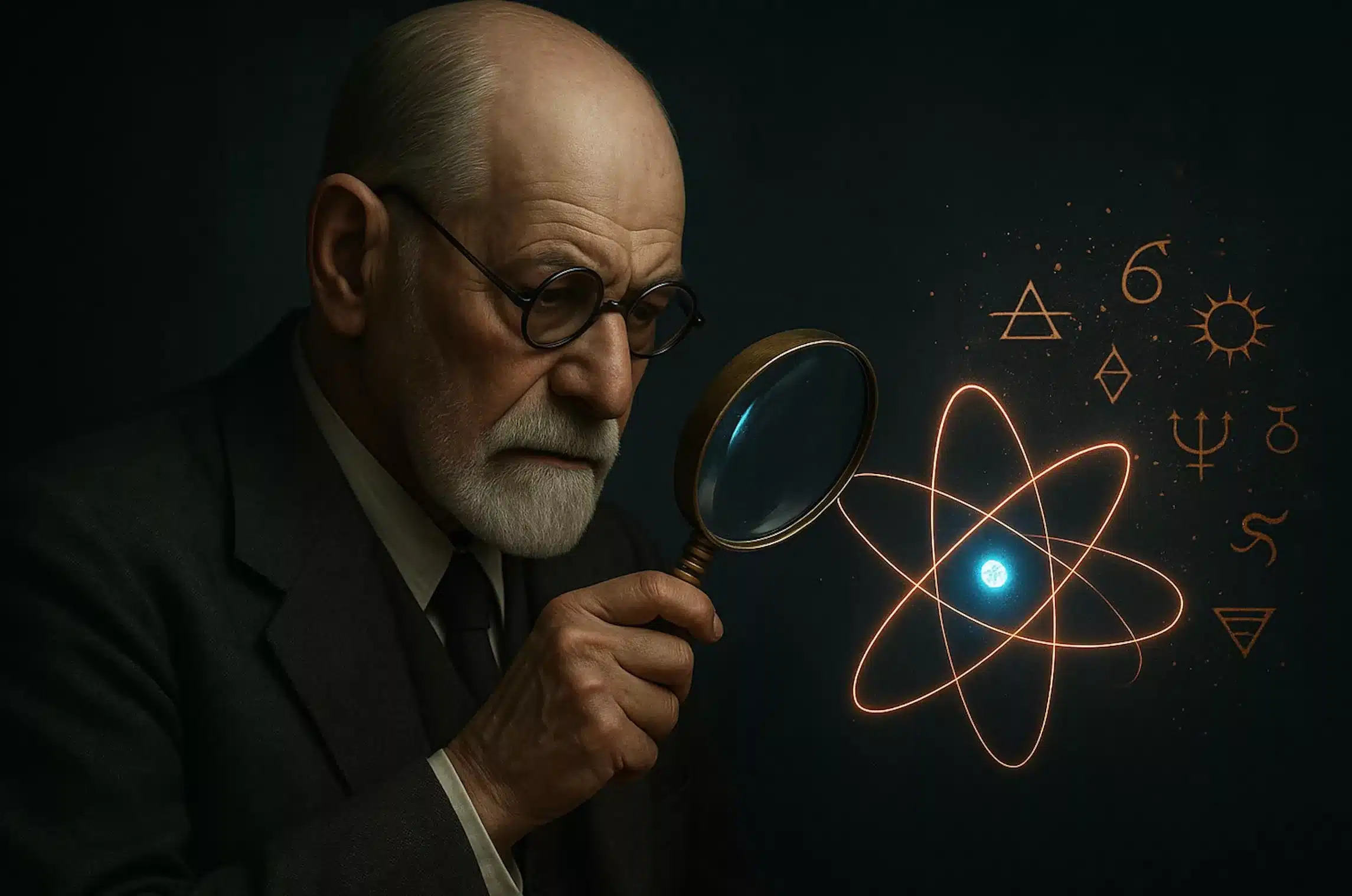Por Mario Bunge
Publicado no Cien Ideas
Sabe-se que, há um par de séculos, não havia distinção entre filosofia e ciência. Os filósofos do Contra-iluminismo, em particular Hegel, Schelling e Fichte, foram os primeiros a erguer uma parede entre ambos os campos. Mesmo assim, nem todos seguiram. Por exemplo, o filósofo e matemático Bernhard Bolzano se inspirou no grande matemático e filósofo racionalista Leibniz, ao invés dos românticos.
Os neokantianos, de Cohen e Natorp a Cassirer, realizaram os primeiros passos para mostrar que a filosofia de Kant era compatível com a ciência, embora talvez necessitasse de alguma cirurgia plástica. No final do século XIX foi publicado em língua alemã uma revista trimestral de filosofia científica. E de 1927 a 1938, os neopositivistas, que reuniam-se no Círculo de Viena, mas que logo foram expatriados para os Estados Unidos, diziam-se fazer filosofia científica. Se algumas destas tentativas foram bem sucedidas é, ainda hoje, motivo de debate.
A ruptura final da filosofia com a ciência veio com a hermenêutica de Dilthey, o intuicionismo de Bergson, o neo-hegelianismo de Croce e Gentile, a fenomenologia de Husserl, o existencialismo de Heidegger e Sartre, e a filosofia linguística do segundo Wittgenstein, Austin e Strawson. É verdade que Bergson saudou o darwinismo. Mas ao mesmo tempo afirmou que a razão não pode compreender a vida, e que a ciência só pode dar conta do inanimado. Ademais, sua crítica à teoria especial da relatividade foi tão lamentável que ele mesmo pediu para retirar o seu livro de circulação.
Vale a pena tentar reaproximar ambos os campos depois de tantos fracassos e conflitos? Creio que sim, até porque toda a investigação científica pressupõe certos princípios filosóficos. Aqui está um exemplo de tais princípios tácitos: “O mundo exterior existe independentemente do sujeito e pode-se conhecê-lo em alguma medida”, “tudo é legiforme: não há milagres”, “para averiguar como é o mundo temos que exercitar a razão e a imaginação, imaginar hipóteses e teorias, e desenhar e realizar observações e experimentos”. Ou seja, os cientistas filosofam sem saber. Sendo assim, é desejável explicitar, analisar e sistematizar as ideias filosóficas que os cientistas frequentemente adotam de maneira descuidada.
Uma tarefa útil que o filósofo pode fazer é estudar e denunciar a ambivalência filosófica da maior parte dos cientistas. Refiro-me ao fato de que, ao praticar uma filosofia, muitas vezes pregam outra. Por exemplo, quando ensinam ou escrevem livros didáticos frequentemente dizem que toda a investigação começa com a observação ou “baseado” nela, e que as teorias não são nada além de dados observacionais. Mas na continuação introduzem conceitos que denotam ao inobservável, tais como os de universo, tempo, massa, peso atômico, comprimento de onda, potencial, metabolismo, aptidão, evolução e história. Ou seja, pregam o empirismo mas praticam uma síntese do empirismo com racionalismo.
No entanto, a filosofia da ciência não é o único ponto de contato entre a filosofia e a ciência. Todos os ramos da filosofia podem ser encarados de maneira científica. Isto não implica que o filósofo realizará medições ou experimentações. Implica que ele colocará a prova suas conjecturas e que, quando trabalha um problema filosófico, ele poderá encontrar resultados científicos relevantes.
Por exemplo, para resolver o problema do ser, deve-se começar por distinguir duas classes de existência: o concreto (ou material) e o abstrato (ou ideal). Se alguém quer se ocupar de objetos ideais, a pessoa terá que aprender o ABC da lógica e da matemática, que são as ciências dos objetos abstratos. Se, no entanto, alguém pretende filosofar sobre coisas concretas, tais como átomos, organismos ou pessoas, ela terá o dever de aprender o ABC da ciência que tratar delas.
Do contrário, o seu discurso será obsoleto ou obscuro, e portanto inútil. Isto ocorreu com Heidegger quando escreveu seu famoso Ser e Tempo, que poderia ter sido escrito por um monge do século anterior ao de Tomás de Aquino. O mesmo ocorre com os filósofos da mente que se negam a inteirar-se sobre as descobertas sensacionais da neurociência cognitiva, que tratam das funções mentais como processos cerebrais. Eles não estão atualizados e, portanto, não fornecem conhecimentos propriamente ditos: só fornecem opiniões e jogos acadêmicos.
Algo semelhante ocorre com os problemas de valores e das normas morais.
É sabido que alguns juízos de valor são subjetivos, enquanto que outros são objetivos. Por exemplo, eu não posso justificar que gosto muitíssimo mais de Mozart do que de Bartok. Talvez alguém possa explicar essa preferência em termos de minha educação, mas eu não posso dar razões válidas. Em vez disso, todos podemos dar boas razões para preferir a água potável à contaminada, a justiça à injustiça, a solidariedade ao egoísmo, a liberdade à tirania, a paz à guerra, et cetera.
Ou seja, há valores objetivos e, portanto, justificáveis, além dos subjetivos, que são mera questão de gosto. Sendo assim, é possível e desejável tentar fundamentar a axiologia e a ética sobre a ciência e a técnica, em vez de assegurar que os valores e as regras morais são puramente emotivos, ou convenções sociais, ou normas impostas pelo poder econômico, político ou eclesiástico.
Por exemplo, pode-se argumentar em favor de uma remuneração justa do trabalho, recorrendo não só aos sentimentos de compaixão e solidariedade, mas também as estatísticas que mostram que a longevidade e a produtividade aumentam com a renda. Ou seja, a justiça social é um bom negócio.
Procedendo desta maneira, pode-se mostrar que nem todas as doutrinas filosóficas são meras opiniões, muito menos superstições, mas que algumas delas podem apropriar-se de conceitos ou dados científicos.
Já passou do tempo da especulação filosófica desbocada. Chegou o tempo da imaginação filosófica alimentada e controlada pelos motores intelectuais da civilização moderna: a ciência e a técnica. Chegou o tempo de frequentar mais a oficina filosófica do que o museu das filosofias caducas.