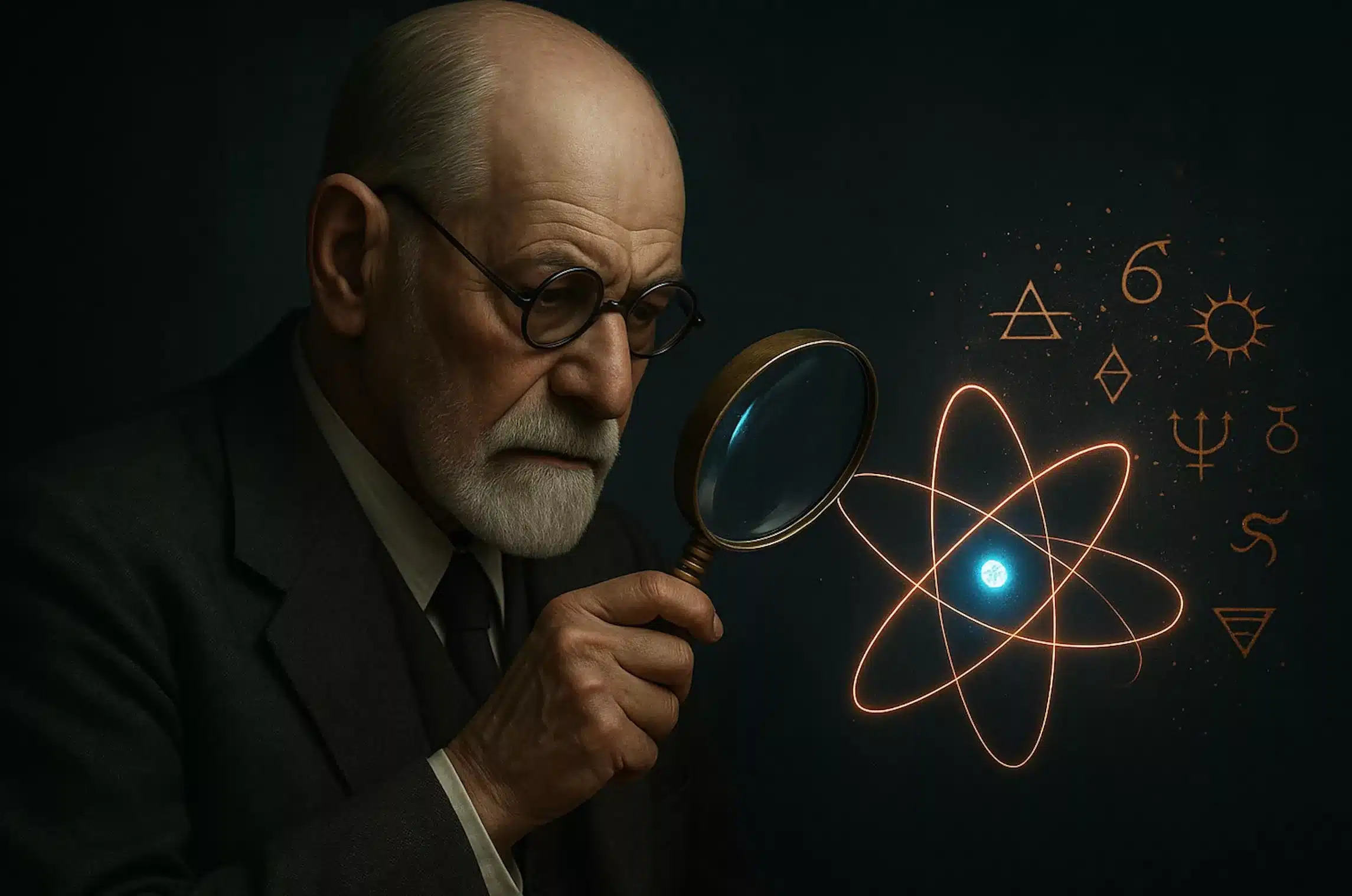Por Natália Pasternak e Carlos Orsi
Publicado no The Skeptic
Tradução de Julio Batista
Como nasce uma pseudociência? Certamente não existe uma resposta única. Algumas, como a astrologia, são baseadas em antigas tradições e formas de pensar; outras, como a homeopatia, são fruto da imaginação de “gênios” autoproclamados e carismáticos. Existem também os programas de pesquisa outrora legítimos que foram deixados para trás pelos fatos, mas ainda se recusam a morrer, como a Programação Neurolinguística (PNL).
Há, no entanto, uma fonte de ideias e temas pseudocientíficos que geralmente é alimentada, porque vem cercada das melhores das intenções: os esforços excessivamente entusiasmados de popularização da ciência que, ao divulgar resultados de pesquisas “sensacionais”, promovem hipóteses “malucas” sem colocá-las no contexto adequado e simplificam ao máximo os conceitos científicos, criando uma (má) compreensão pública da ciência que é um terreno fértil para a ideação e exploração pseudocientífica.
Talvez a vítima mais notável de tal processo, hoje em dia, seja a física quântica. Décadas de escrita popular sobre o assunto têm se concentrado em características contraintuitivas como o Princípio da Incerteza, dualidade onda-partícula e o chamado “problema de medição”, onde algumas propriedades dos sistemas quânticos só se tornam definidas depois de observadas (alegações falsas muitas vezes omitem ou menosprezam o fato de, neste contexto, qualquer equipamento inanimado poder contar como “observador”). Como resultado, a compreensão ampla, mas superficial do público da física quântica deu origem ao movimento da “consciência quântica”, trazendo um mercado crescente para o charlatanismo quântico.
Por exemplo, aqui no Brasil você pode comprar, por 49,90 reais um livro que vai te ensinar como usar os poderes quânticos da mente para reescrever seu DNA e transformá-lo em um DNA de “milionário” (esperamos ver hordas de clones de Bill Gates vagando pelas ruas a qualquer momento).
Este não é, entretanto, um fenômeno novo. Em seu ensaio de 1995 The Turmoil of the Unknown, o acadêmico de literatura francesa Michel Pierssens destaca que, na França do século XIX, surgiu “uma ciência ‘popular’ (e não uma ciência popularizada, embora baseada na última) que por si só seria capaz de continuar onde a ciência oficial sempre iria parar. A ciência ousada e otimista do desconhecido se destacaria contra a ciência temerosa e cética do conhecido” (grifo nosso).
Pierssens estava se referindo à crença espiritualista de comunicação com os mortos, mas tais considerações podem ser facilmente trazidas ao presente e aplicadas a um grande número de assuntos, desde a busca por Atlântida até a tradição de Antigos Astronautas e, é claro, todos os tipos de besteirol quântico. As pseudociências tendem a se basear no que os não-especialistas sabem, ou acreditam saber, sobre a ciência real. E o que os não-especialistas sabem é o que eles lembram da escola e o que os divulgadores científicos lhes disseram.
O uso de sensacionalismo e exageros nos esforços de popularização da ciência tem uma longa tradição e é especialmente perigoso (e prevalente) em questões relacionadas à saúde humana.
Outro fator que influenciou fortemente a popularização da ciência, nem sempre para melhor, é a necessidade de contar histórias e de criar heróis. Estudos de comunicação e comportamento nos mostram que os humanos respondem melhor às histórias do que às estatísticas, portanto, obviamente, faz sentido colocar essa ferramenta valiosa em uso na comunicação científica. No entanto, embora seja eficaz, a narração de histórias pode ser muito enganosa se não formos cuidadosos e pode preparar o caminho para apresentar o progresso da maneira menos científica.
Histórias como a descoberta da penicilina por Alexander Fleming, por exemplo, podem levar as pessoas a acreditar que muitas descobertas científicas acontecem por acaso. Isso não só é errado, mas também permite uma interpretação religiosa ou espiritual, como se os grandes cientistas fossem inspirados por uma força maior que os guiou no caminho de seu grande avanço.
Esta narrativa pode muito bem ser o resultado de nossa necessidade de romantizar o passado e de nossa necessidade de heróis e gênios solitários, mas essas figuras são frequentemente mais valorizadas do que o trabalho científico simples e honesto feito por milhares de cientistas em todo o mundo – o trabalho que gera conhecimento, avança a tecnologia e impacta nosso dia a dia.
Veja Fleming, por exemplo. Como nos conta o historiador da ciência John Walker em seu livro Fabulous Science, não houve nada fortuito na descoberta da penicilina e, se fosse deixada apenas nas mãos de Fleming, certamente não teria se transformado no primeiro antibiótico comercial. Esta versão é amplamente conhecida entre os cientistas, mas os leigos geralmente estão familiarizados apenas com a história romantizada.

Fleming escreveu que estar familiarizado com a lisozima tornou mais fácil para ele identificar potenciais agentes antimicrobianos, como o famoso mofo nas placas de Petri que levaram ao isolamento da penicilina. O que a história não conta é que Fleming teve problemas para reproduzir o experimento do “acaso”. Da forma como é contada, temos a impressão de que a penicilina matou as bactérias, e fez isso em uma placa de Petri. O verdadeiro mecanismo de ação é a destruição da parede celular bacteriana, impedindo o crescimento da bactéria. Quando Fleming tentou matar colônias de bactérias, ele falhou. Ele teve que primeiro cultivar o mofo, então semear a bactéria perto dele. Dessa forma, as bactérias cultivadas dentro de 3 cm do mofo morreriam, e o resto, mais longe do mofo, prosperaria.
O que provavelmente aconteceu (e provavelmente foi por acaso) foi que quando Fleming deixou suas placas de Petri no laboratório, houve uma onda de frio que retardou o crescimento bacteriano, permitindo que o mofo crescesse primeiro – um elemento que ele não incluiu em sua publicação. Por esse motivo, outros bacteriologistas não conseguiram reproduzir seu trabalho.
Segue-se então o mito de que Fleming sabia desde o início que a penicilina era uma droga milagrosa. A verdade é que ele não sabia produzir em escala e nem tentou. Ele ficou preso em sua descoberta por 15 anos, até que Howard Florey e Ernst Chain, da Universidade de Oxford, descobriram seu estudo; em apenas três anos, eles alcançaram a purificação e a produção em massa de penicilina. Fleming nunca contribuiu para este trabalho e contatou a equipe somente após a publicação no The Lancet, em 1941.
Esse hábito de torcer a história por histórias melhores e mais enfeitadas tem um preço: leva as pessoas a pensarem que grandes descobertas são sempre feitas por gênios solitários e que leva tempo para a sociedade reconhecer isso. Os pseudocientistas aproveitam-se disso para promover o charlatanismo e se venderem como novos Galileus; gênios muito à frente de seu tempo.
As histórias científicas não precisam ser contos de fadas para serem interessantes. O trabalho de Florey e Chain em redescobrir e descobrir como produzir penicilina em massa, respondendo a um esforço de guerra, é fascinante. O trabalho deles, com uma pequena ajuda do trabalho de laboratório de Fleming 15 anos antes, ajudou a vencer a guerra. Sem eles, o mundo seria um lugar muito diferente. Quão incrível é isso?
Ser fiel à ciência e à história garante o avanço da primeira e a verdade da última. Ambos são essenciais para combater a popularidade da pseudociência.